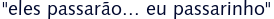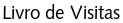Além da cidadania... em Identidade, entrevista de Zygmunt Bauman a Benedetto Vecchi — tradução de Carlos Alberto Medeiros pra Jorge Zahar Editor Ltda.
segmento do ensaio-entrevista de Zygmunt Bauman
...Benedetto Vecchi Devemos a Thomas Marshall o primeiro discurso em que os direitos sociais da cidadania foram vistos como um arcabouço, e dentro desse arcabouço as vestes das identidades coletivas eram desprezadas em favor das vestes do cidadão. Desde então, as identidades têm saído da obscuridade da grande transformação para habitar os tempos modernos. Na sua opinião, como se dá essa transformação? Zygmunt Bauman Essa história já foi contada muitas vezes, e muitas vezes o sonho de uma república que reconhece a humanidade de seus membros e lhes oferece todos os direitos devidos aos seres humanos apenas porque são seres humanos — uma república que, ao mesmo tempo que aceita os seus membro as apenas com o pretexto de sua humanidade, é também plenamente tolerante, talvez até cega e desatenta, a suas extravagâncias e idiossincrasias(desde que, evidentemente, não prejudiquem uns aos outros) — foi nutrido por cada uma das gerações modernas (o “patriotismo constitucional” de Jürgen Habermas constitui a sua última versão). E isso não surpreende. Tal república parece a melhor solução que se possa imaginar para a mais angustiante incerteza de qualquer forma de convívio humano, isto é, como viver juntos com um mínimo de rivalidade e conflito, enquanto mantêm inabalada a liberdade de escolha e a autoafirmação. Em resumo: como alcançar a unidade na (apesar da?) diferença e como preservara diferença na (apesar da?) unidade. A contribuição singular de Thomas Marshall foi generalizar a sequência de desenvolvimentos políticos da Grã-Bretanha, transformando-a numa “lei histórica” que conduziria inextricavelmente, em toda parte, mais cedo ou mais tarde, do habeas corpus à ascensão do poder político, e depois social. No limiar dos “30 anos gloriosos” da reconstrução e do “pacto social” do pós-guerra, a solução britânica para a incerteza anteriormente mencionada parecia de fato inevitável e, mais dia menos dia, irresistível. Era, afinal de contas, a sucessão lógica do cerne do credo liberal que para se tornar um cidadão pleno da república era preciso possuir os recursos que liberam tempo e energia da luta pela mera sobrevivência. A camada inferior da sociedade, os proletários, carecia desses recursos e era improvável que os obtivesse por meio de seu próprio esforço e suas economias — portanto, era a própria república que tinha de garantir a satisfação de suas necessidades básicas de modo que pudessem ser integrados ao conjunto dos cidadãos. Em outras palavras: esperava-se — acreditava-se — que, uma vez alcançada a segurança pessoal quanto à opressão, as pessoas se reuniriam para resolver seus interesses em comum por meio da ação política, e o resultado da participação sempre crescente, e por fim universal, seria a sobrevivência coletivamente garantida — em relação à pobreza, à ameaça do desemprego, à incapacidade de garantir diariamente a existência dia após dia. Para resumir uma longa história: uma vez livres, as pessoas se tornariam politicamente interessadas e ativas, e por sua vez promoveriam efetivamente a equidade, a justiça, a proteção mútua, a fraternidade. Deve-se ter cuidado, contudo, em proclamar que uma sucessão histórica é a manifestação das “leis férreas da história” e uma inevitabilidade histórica. E deve-se ter mais cuidado ainda em excluir “a lógica do desenvolvimento” antes que o “desenvolvimento” tenha tido seu curso. Não há como dizer quando uma sucessão de eventos chegou ao fim, ou em que ponto termina: a história humana permanece obstinadamente incompleta e a condição humana, subdeterminada. Na época em que Marshall escreveu, a variação britânica do “Estado de bem-estar” (melhor chamá-lo, creio eu, de “Estado social”) de fato parecia o auge da lógica moderna — o adequado coroamento de um impulso histórico tortuoso mas implacável e impossível de paralisar, talvez concebido localmente, mas destinado a ser imitado com modificações, é possível, mas preservando os seus elementos essenciais — por todas as “sociedades desenvolvidas.”. Em retrospecto, essa conclusão parece no mínimo prematura. Há apenas 30 anos, depois de lorde Beveridge ter dado o toque final no projeto de seguro social coletivo contra os infortúnios individuais, e enquanto Marshall colocava no papel a sua visão auspiciosa, otimista, da consequente plenitude da cidadania, Kenneth Galbraith atentou para o advento de uma “maioria satisfeita” que utilizava os direitos pessoais e políticos recém-adquiridos para excluir os seus concidadãos menos sagazes ou astutos de um número crescente de direitos sociais. Ao contrário das previsões de Beveridge e Marshall, a capacidade do Estado social de fazer a maioria sentir-se confiante e satisfeita acabou minando as suas premissas e ambições em vez de fortalecê-las. Paradoxalmente, a autoconfiança da “maioria satisfeita” que impeliu os seus membros a retirarem seu apoio ao princípio fundamental do Estado social — o da segurança coletiva contra os infortúnios individuais — foi uma consequência do estrondoso sucesso desse mesmo Estado social. Tendo sido alçada ao nível da genuína abundância, a uma posição na qual uma profusão de oportunidades acenava a qualquer um que dispusesse de recursos suficientes, essa maioria chutou para longe a escada sem a qual subir a um ponto tão alto seria perigoso ou totalmente impossível. O processo tinha impulso e aceleração próprios. A mudança da opinião popular resultou num encolhimento progressivo da proteção que um Estado social não mais abrangente desejava e podia oferecer. Em primeiro lugar, o princípio do seguro social coletivo como direito universal de todos os cidadãos foi, pela prática do “teste dos recursos”, substituído por uma promessa de assistência dirigida apenas às pessoas que fracassassem no teste da abundância de recursos e da autossuficiência — e, portanto, implicitamente, no teste da cidadania e da “plena humanidade”. Depender das drogas da previdência se tornou, assim, não um direito da cidadania, mas um estigma do qual pessoas com respeito próprio devem se afastar. Em segundo lugar, de acordo com a regra de que provisões para os pobres são provisões pobres, os serviços de bem-estar social perderam muito da antiga atração que exerciam. Esses dois fatores acrescentaram animosidade, velocidade e intensidade ao processo de distanciamento da “maioria satisfeita” em relação à aliança para além da direita e da esquerda” em apoio ao Estado social. Isso, por sua vez, aumentou a limitação e a defasagem de sucessivas medidas de bem-estar social e levou a uma incapacitação geral das instituições previdenciárias, vítimas da falta de verbas. No extremo final do recuo do Estado social se faz a couraça dessecada, rachada e murcha da “república”, despida de seus adornos mais atraentes. Indivíduos enfrentando os desafios da vida e orientados a buscar soluções privadas para problemas socialmente produzidos não podem esperar muita ajuda do Estado, cujos poderes restritos não prometem muito — e garantem menos ainda. Uma pessoa sensata não confiaria mais no Estado para prover tudo o que necessita em caso de desemprego, doença ou idade avançada, para assegurar serviços de saúde decentes ou uma educação adequada para as crianças. Acima de tudo, uma pessoa sensata não esperaria do Estado que protegesse os seus sujeitos dos golpes desferidos, de forma aparentemente aleatória, pelo jogo das forças globais, não controlado e mal compreendido. E assim há um sentimento novo, mas já profundamente enraizado, de que mesmo que alguém soubesse como seria uma boa sociedade, não seria possível encontrar uma torça capacitada e ávida por realizar tais desejos da população. Levando-se tudo isso em consideração, o significado de “cidadania” tem sido esvaziado de grande parte de seus antigos conteúdos, fossem genuínos ou postulados, enquanto as instituições dirigidas ou endossadas pelo Estado que sustentavam a credibilidade desse significado têm sido progressivamente desmanteladas. O Estado-nação, como já mencionamos, não é mais o depositório natural da confiança pública. A confiança foi exilada do lar em que viveu durante a maior parte da historia moderna. Agora está flutuando à deriva em busca de abrigos alternativos — mas nenhuma das alternativas oferecidas conseguiu até agora equiparar-se, como porto de escala, à solidez e aparente naturalidade” do Estado-nação. Houve um tempo em que a identidade humana de uma pessoa era determinada fundamentalmente pelo papel produtivo desempenhado na divisão social do trabalho, quando o Estado garantia (se não na prática, ao menos nas intenções e promessas) a solidez e a durabilidade desse papel, e quando os sujeitos do Estado podiam exigir que as autoridades prestassem contas no caso de deixarem de cumprir as suas promessas e desincumbir-se da responsabilidade assumida de proporcionar a plena satisfação dos cidadãos. Essa cadeia contínua de dependência e amparo poderia compreensivelmente fornecer um alicerce para algo como o “patriotismo constitucional” de Habermas. Parece, entretanto, que o apelo ao “patriotismo constitucional” como solução eficaz para os atuais problemas segue o hábito das asas da Coruja de Minerva, conhecidas desde os tempos de Hegel por se abrirem à noite, quando o dia se foi... Só se avalia plenamente o valor de alguma coisa quando esta some de vista — desaparece ou é dilapidada. Não há muito no atual estado das coisas que inspire a esperança nas probabilidades do patriotismo constitucional. Para que a força centrípeta do Estado se sobreponha à força centrífuga dos interesses e preocupações regionais, locais e particularistas, relacionados a grupos e autorreferenciais, o Estado deve ser capaz de oferecer alguma coisa que não possa ser obtida de modo igualmente eficaz nos níveis inferiores, e de atar os fios de uma rede de segurança que do contrário ficariam soltos. O tempo em que o Estado era capaz desse feito, e em que se confiava que fizesse o que fosse necessário para completar a sua tarefa, de modo geral terminou. O governo do Estado é uma entidade à qual é improvável que os membros de uma sociedade cada vez mais privatizada e desregulamentada dirijam as suas queixas e exigências. Eles têm sido repetidamente orientados a confiarem em suas próprias sagacidades, habilidades e em seu esforço sem esperar que a salvação venha do céu: culpar a si mesmos, a sua apatia ou preguiça, se tropeçarem ou quebrarem as pernas no caminho individual rumo à felicidade. Pode-se desculpá-los por pensarem que os poderes constituídos se eximiram de toda a responsabilidade por seus destinos (com a possível exceção de trancafiar pedófilos, varrer das ruas os vagabundos, ociosos, mendigos e outros indesejáveis, e deter suspeitos de terrorismo antes que se transformem em terroristas de fato). Sentem-se abandonados aos próprios recursos — bastante insuficientes — e à própria iniciativa — muito desordenada. E o que é aquilo com que os indivíduos abandonados, dessocializados, fragmentados e solitários provavelmente sonham e, se têm uma chance, fazem? Já que os grandes portos foram fechados ou privados dos quebra-mares que costumavam torná-los seguros, os infelizes marinheiros ficarão propensos a construir e cercar os pequenos refúgios onde podem ancorar e depositar as suas destituídas e frágeis identidades. Não confiando mais na rede de navegação pública, eles guardam com desconfiança o acesso a esses refúgios privados contra todo e qualquer intruso. Para a mente sensata, a atual ascensão espetacular dos fundamentalismos não guarda mistério. Está longe de ser intrigante ou inesperada. Feridos pela experiência do abandono, homens e mulheres desta nossa época suspeitam ser peões no jogo de alguém, desprotegidos dos movimentos feitos pelos grandes jogadores e facilmente renegados e destinados à pilha de lixo quando estes acharem que eles não dão mais lucro. Consciente ou subconscientemente, os homens e as mulheres de nossa época são assombrados pelo espectro da exclusão. Sabem — como Hauke Brunkhorst nos lembra de maneira pungente — que milhões já foram excluídos, e que “para os que caem fora do sistema funcional, seja na Índia, no Brasil ou na África, ou mesmo como ocorre atualmente em muitos distritos de Nova York ou Paris, todos os outros logo se tornam inacessíveis. Sua voz não é mais ouvida, com frequência ficam literalmente mudos.” E assim tem medo de serem abandonados, sem acesso a um coração afetuoso ou uma mão amiga, e sentem muita falta do calor, conforto e segurança do convívio. Não surpreende que para muitas pessoas a promessa fundamentalista de “renascer” num novo lar cordial e seguro, do tipo familiar, seja uma tentação à qual é difícil de resistir. Poderiam ter preferido outra coisa à terapia fundamentalista — uma espécie de segurança que não exija apagar a sua identidade e abdicar de sua liberdade de escolha —, mas essa segurança não está disponível. O “patriotismo constitucional” não é uma opção realista, ao passo que uma comunidade fundamentalista parece sedutoramente simples. E assim eles vão imergir prontamente nesse calor, mesmo com a expectativa de depois terem e pagar por esse prazer. Afinal, não foram criados numa sociedade de cartões de crédito que elimina a distância entre a espera e o desejo? ... Zygmunt Bauman e Benedetto Vencchi
Enviado por Germino da Terra em 08/01/2014
Alterado em 01/02/2014 Copyright © 2014. Todos os direitos reservados. Você não pode copiar, exibir, distribuir, executar, criar obras derivadas nem fazer uso comercial desta obra sem a devida permissão do autor. Comentários
|
Site do Escritor criado por
Recanto das Letras