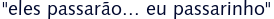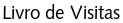A estratégia Don Juan — segmento de Identidade, entrevista de Zygmunt Bauman a Benedetto Vecchi — tradução de Carlos Alberto Medeiros pra Jorge Zahar Editor Ltda.
Benedetto Vecchi Com a globalização, a identidade se torna um assunto acalorado. Todos os marcos divisórios são cancelados, as biografias se tornam quebra-cabeças de soluções difíceis e mutáveis. Entretanto, o problema não são as peças individuais desse mosaico, mas como elas se encaixam umas nas outras. Qual é a sua opinião?
Zygmunt Bauman Receio que a sua alegoria dos quebra-cabeças seja apenas parcialmente esclarecedora. Sim, é preciso compor a sua identidade pessoal (ou as suas identidades pessoais?) da forma como se compõe uma figura com as peças de um quebra-cabeça, mas só se pode comparar a biografia com um quebra-cabeça incompleto, ao qual faltem muitas peças (e jamais se saberá quantas). O quebra-cabeça que se compra numa loja vem completo numa caixa, em que a imagem final esta claramente impressa, e com a garantia de devolução do dinheiro se todas as peças necessárias para reproduzir essa imagem não estiverem dentro da caixa ou se for possível montar uma outra usando as mesmas peças. E assim você pode examinar a imagem na caixa após cada encaixe no intuito de se assegurar que de fato está no caminho certo (único), em direção a um destino previamente conhecido, e verificar o que resta a ser feito para alcançá-lo. Nenhum desses meios auxiliares está disponível quando você compõe o que deve ser a sua identidade. Sim, há um monte de pecinhas na mesa que você espera poder juntar formando um todo significativo — mas a imagem que deverá aparecer ao fim do seu trabalho não é dada antecipadamente, de modo que você não pode ter certeza de ter todas as peças necessárias para montá-la, de haver selecionado as peças certas entre as que estão sobre a mesa, de as ter colocado no lugar adequado ou de que elas realmente se encaixam para formar a figura final. Podemos dizer que resolver um quebra-cabeça comprado numa loja é uma tarefa direcionada para o objetivo: você começa, por assim dizer, da linha de chegada, da imagem final conhecida de antemão, e então apanha as peças na caixa, uma após a outra, a fim de tentar encaixá-las. O tempo todo você acredita que, ao final, com o devido esforço, o lugar certo de cada peça e a peça certa para cada lugar serão encontrados. O ajustamento mútuo das peças e a completude do conjunto estão assegurados desde o inicio. No caso da identidade, não funciona nem um pouco assim: o trabalho total é direcionado para os meios. Não se começa pela imagem final, mas por uma série de peças já obtidas ou que pareçam valer a pena ter, e então se tenta descobrir como é possível agrupá-las e reagrupá-las para montar imagens (quantas?) agradáveis. Você está experimentando com o que tem. Seu problema não é o que você precisa para “chegar lá”, ao ponto que pretende alcançar, mas quais são os pontos que podem ser alcançados com os recursos que você já possui, e quais deles merecem os esforços para serem alcançados. Podemos dizer que a solução de um quebra-cabeça segue a lógica da racionalidade instrumental (selecionar os meios adequados a um determinado fim). A construção da identidade, por outro lado, é guiada pela lógica da racionalidade do objetivo (descobrir o quão atraentes são os objetivos que podem ser atingidos com os meios que se possui). A tarefa de um construtor de identidade é, como diria Lévi-Strauss, a de um bricoleur, que constrói todo tipo de coisas com o material que tem à mão... Nem sempre foi assim. Quando a modernidade substituiu os estados pré-modernos (que determinavam a identidade pelo nascimento e assim proporcionavam poucas oportunidades para que surgisse a questão do “quem sou?”) pelas classes, as identidades se tornaram tarefas que os indivíduos tinham de desempenhar, como você corretamente apontou, por meio de suas biografias. Como Jean-Paul Sartre afirmou de modo admirável, para ser burguês não basta ter nascido na burguesia — é preciso viver a vida inteira como burguês! Quando se trata de pertencer a uma classe, é necessário provar pelos próprios atos, pela “vida inteira” — não apenas exibindo ostensivamente uma certidão de nascimento —, que de fato se faz parte da classe a que se afirma pertencer. Deixando de fornecer essa prova convincente, pode-se perder a qualificação de classe, tornar-se déclassé. Durante a maior parte da era moderna, aquilo em que essa prova devia consistir era de uma clareza cristalina. Cada classe tinha, podemos dizer as suas trilhas de carreira, sua trajetória estabelecida de maneira clara, sinalizada ao longo de todo o percurso e pontuada por acontecimentos importantes que permitiam aos viajantes monitorar o seu progresso. Havia poucas dúvidas, se é que havia alguma, sobre a forma da vida que se deveria viver para ser, digamos, um burguês — e ser reconhecido como tal. Acima de tudo, essa forma parecia moldada de uma vez por todas. Podia-se seguir a trajetória passo a passo, adquirindo as sucessivas insígnias de classe em sua ordem adequada, “natural”, sem a preocupação de que os sinalizadores fossem deslocados ou virados na direção oposta antes de se completar a jornada. Fazer da “identidade” uma tarefa e o objetivo do trabalho de toda uma vida, em comparação com a atribuição a estados da era pré-moderna, foi um ato de libertação — libertação da inércia dos costumes tradicionais, das autoridades imutáveis, das rotinas preestabelecidas e das verdades inquestionáveis. Mas, como Alain Peyrefitte descobriu em seu meticuloso estudo da história, essa liberdade nova, sem precedentes, representada pela autoidentificação, que se seguiu à decomposição do sistema de estados, foi acompanhada de uma confiança, igualmente nova e sem precedentes, em si mesmo e nos outros, assim como nos méritos da companhia de outras pessoas, que recebeu o nome de “sociedade”: em sua sabedoria coletiva, na confiabilidade de suas instruções, na durabilidade de suas instituições. Para ousar e assumir riscos, ter a coragem exigida pelo ato de fazer escolhas, essa tripla confiança (em si mesmo, nos outros, na sociedade) é necessária. É preciso acreditar que é adequado confiar em escolhas feitas socialmente e que o futuro parece certo. A sociedade é necessária como um arbitro, não como outro jogador que mantém as cartas coladas ao peito e gosta de surpreender você... Os observadores mais argutos da vida moderna notaram muito cedo, ainda no século XIX, que a confiança em questão não tinha bases tão sólidas quanto aquelas que a “versão oficial” — lutando para se tornar o credo predominante, talvez o único — insinuava. Um desses observadores sagazes foi Robert Musil, que, bem no início do século passado, percebeu que “a sociedade não funciona mais de maneira adequada”, numa época em que alguns indivíduos haviam “atingido os píncaros da sofisticação‘‘. O deslocamento das responsabilidades de escolha para os ombros do indivíduo, a destruição dos sinalizadores e a remoção dos marcos históricos, rematadas pela crescente indiferença dos poderes superiores em relação à natureza das escolhas feitas e à sua viabilidade, foram duas tendências presentes desde o inicio no desafio da autoidentificação”. No decorrer do tempo, as duas tendências, fortemente interligadas e mutuamente revigorantes, ganharam força ainda que desaprovadas, deploradas e censuradas como desenvolvimentos preocupantes e até mesmo patológicos. A principal força motora por trás desse processo tem sido desde o principio a acelerada “liquefação” das estruturas e instituições sociais. Estamos agora passando da fase “sólida” da modernidade para a fase “fluida”. E os “fluidos” são assim chamados porque não conseguem manter a forma por muito tempo e, a menos que sejam derramados num recipiente apertado, continuam mudando de forma sob a influência até mesmo das menores forças. Num ambiente fluido, não há como saber se o que nos espera é uma enchente ou uma seca — é melhor estar preparado para as duas possibilidades. Não se deve esperar que as estruturas, quando (se) disponíveis, durem muito tempo. Não serão capazes de aguentar o vazamento, a infiltração, o gotejar, o transbordamento — mais cedo do que se possa pensar, estarão encharcadas, amolecidas, deformadas e decompostas. Autoridades hoje respeitadas amanhã serão ridicularizadas, ignoradas ou desprezadas; celebridades serão esquecidas; ídolos formadores de tendências só serão lembrados nos quizz shows da TV; novidades consideradas preciosas serão atiradas nos depósitos de lixo; causas eternas serão descartadas por outras com a mesma pretensão à eternidade (embora, tendo chamuscado os dedos repetidas vezes, as pessoas não acreditem mais); poderes indestrutíveis se enfraquecerão e se dissiparão, importantes organizações políticas ou econômicas serão engolidas por outras ainda mais poderosas ou simplesmente desaparecerão; capitais sólidos se transformará no capital dos tolos; carreiras vitalícias promissoras mostrarão ser becos sem saída. Tudo isso é como habitar um universo desenhado por Escher, onde ninguém, em lugar algum, pode apontar a diferença entre um caminho ascendente e um declive acentuado. Não se acredita mais que a “sociedade” seja um árbitro das tentativas e erros dos seres humanos — um árbitro severo e intransigente, por vezes rígido e impiedoso, mas de quem se espera ser justo de princípios. Ela nos lembra, em vez disso, um jogador particularmente astuto, ardiloso e dissimulado, especializado no jogo da vida, trapaceando quando tem chance, zombando das regras quando possível — em suma, um perito em truques por baixo do pano que costuma apanhar todos os outros jogadores, ou a maioria deles, despreparados. Seu poder não se baseia mais na coerção direta: a sociedade não dá mais as ordens sobre como se viver — e, mesmo que desse, não lhe importaria muito que elas fossem obedecidas ou não. A “sociedade” deseja apenas que você continue no jogo e tenha fichas suficientes para permanecer jogando. A força da sociedade e o seu poder sobre os indivíduos agora se baseiam no fato de ela ser “não localizável” em sua atitude evasiva, versatilidade e volatilidade, na imprevisibilidade desorientadora de seus movimentos, na agilidade de ilusionista com que escapa das gaiolas mais resistentes e na habilidade com que desafia expectativas e volta atrás nas suas promessas, quer declaradas sem rodeios ou engenhosamente insinuadas. A estratégia certa para lidar com um jogador tão evasivo e não confiável é derrotá-lo no seu próprio jogo... Dou Juan (tal como retratado por Molière, Mozart ou Kierkegaard) pode ser considerado inventor e pioneiro dessa estratégia. Pelas confissões do próprio Don Juan de Molière, o prazer da paixão consistia na mudança incessante. O segredo das conquistas do Don Giovanni de Mozart, na opinião de Kierkegaard, era a sua habilidade em terminar rapidamente e partir para um novo começo. Don Giovanni vivia num estado permanente de auto-criação. Na visão de Ortega y Gasset, Don Juan/Don Giovanni era a verdadeira encarnação da vitalidade do viver espontâneo, e isso o tornava a maior manifestação da inquietação fundamental, das preocupações e ansiedades dos seres humanos modernos. Tudo isso levou Michel Serres (em “A aparição de Hermes” no seu livro Hermes) a considerar Don Juan o primeiro herói da modernidade. A partir de uma alusão de Camus (o qual percebeu que um sedutor ao estilo de Don Juan não gosta de olhar retratos), Beata Frydryczak, perspicaz filósofa da cultura, notou que esse “herói da modernidade” não poderia ser um colecionador, já que para ele só contava o “aqui e agora”, a fugacidade do momento. Se de fato colecionasse alguma coisa, faria uma coleção de sensações, emoções, Erlebnisse. E as sensações são, pela própria natureza, tão frágeis e efêmeras, tão voláteis quanto as situações que as desencadearam. A estratégia de carpe diem é uma reação a um mundo esvaziado de valores que finge ser duradouro. O que (creio eu) se segue é que a sua sugestão de que o problema está na “forma como eles” (os vários pedaços de que a identidade supostamente coesa se compõe) “se encaixam uns nos outros é reveladora, mas incorreta. Ajustar peças e pedaços para formar um todo consistente e coeso chamado “identidade” não parece ser a principal preocupação de nossos contemporâneos, que foram atirados à força e de modo irredimível a uma condição dou-juanesca e assim se veem obrigados a adotar a estratégia correspondente. Talvez não seja absolutamente essa a sua preocupação. Uma identidade coesa, firmemente fixada e solidamente construída seria um fardo, uma repressão, uma limitação da liberdade de escolha. Seria um presságio da incapacidade de destravar a porta quando a nova oportunidade estiver batendo. Para resumir uma longa história: seria uma receita de inflexibilidade, ou seja, dessa condição o tempo todo execrada, ridicularizada ou condenada por quase todas as autoridades do momento, sejam elas genuínas ou supostas — os meios de comunicação de massa, os doutos especialistas em problemas humanos e os líderes políticos —, por se opor à atitude correta, prudente e promissora diante da vida, e assim constituir uma condição em relação à qual a recomendação quase unânime é ter cautela e evitá-la cuidadosamente. Para a grande maioria dos habitantes do líquido mundo moderno, atitudes como cuidar da coesão, apegar-se às regras, agir de acordo com os precedentes e manter-se fiel à lógica da continuidade, em vez de flutuar na onda das oportunidades mutáveis e de curta duração, não constituem opções promissoras. Se outras pessoas as adotam (raramente de bom grado, pode-se estar certo!), são prontamente apontadas como sintomas da privação social e um estigma do fracasso na vida, da derrota, da desvalorização, da inferioridade social. Na percepção popular, elas tendem a estar associadas à vida numa prisão ou num gueto urbano, a ser classificadas como pertencentes à detestada e abominada “subclasse”, ou a ser confinadas nos campos de refugiados sem pátria... Os projetos a que se deve jurar lealdade vitalícia, uma vez escolhidos e acalentados (apenas meio século atrás, Jean-Paul Sartre recomendava a adoção dos projets de la vie), são mal acolhidos pela crítica e perdem a atração que exerciam. Se pressionadas, as pessoas, em sua maioria, os descreveriam como contraproducentes e decerto um tipo de opção que não fariam com satisfação. Ajustar pedaços infinitamente — sim, não há outra coisa que se possa fazer. Mas conseguir ajustá-los, encontrar o melhor ajuste que possa pôr um fim ao jogo do ajustamento? Não, obrigado, é melhor viver sem isso. Próximo ao fim de uma vida de incontáveis esforços para compor a impecável harmonia de cores puras e formas geometricamente perfeitas (sendo a perfeição um estado que não pode ser melhorado, o que impede qualquer mudança futura), Piet Mondrian, o grande poeta da modernidade sólida, pintou “Victory boogie-woogie”: uma furiosa e tumultuada união desarmônica de formas disformes e matizes destoantes de vermelho, laranja, rosa, verde e azul... Zygmunt Bauman e Benedetto Vecchi
Enviado por Germino da Terra em 07/01/2014
Alterado em 17/08/2015 Copyright © 2014. Todos os direitos reservados. Você não pode copiar, exibir, distribuir, executar, criar obras derivadas nem fazer uso comercial desta obra sem a devida permissão do autor. Comentários
|
Site do Escritor criado por
Recanto das Letras