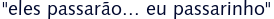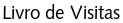A ficção da realidade? Ou a realidade da ficção?, por André Bernardo, em Língua Portuguesa, ano 2 – no 14
Qual a validade do termo “autoficção” em tempos de autopromoção e culto à personalidade? Escritores, críticos e acadêmicos discutem os limites entre vida e invenção na literatura contemporânea
Diante da tela em branco do computador, o escritor pode fazer tudo: ater-se aos fatos, trapacear a memória e ficcionalizar a realidade. Em 1977, ao escrever o romance Fils — vocábulo francês que pode significar tanto “fio”, “linha” e “encadeamento” quanto “filho” e “descendente” —, o crítico literário francês Serge Doubrovsky optou pela terceira alternativa. Tirou da própria biografia a matéria-prima necessária para construir uma narrativa em primeira pessoa, cujo personagem-narrador, apesar de se chamar Serge Doubrovsky, era totalmente ficcional. Autobiografia ou ficção? Nem uma coisa, nem outra. Nascia ali o termo autoficção, cunhado pelo próprio Doubrovsky para definir uma “ficção de acontecimentos e fatos absolutamente reais”.
— A autoficção reivindica para si a possibilidade de reconstrução livre, arbitrária e ficcional dos fragmentos da memória, sem compromisso com a transcrição literal dos acontecimentos — explica Ana Maria Lisboa de Mello, doutora em letras pela Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul (PUC-RS) e orientadora da tese A autoficção na literatura contemporânea. Limites embaralhados Ainda hoje, 35 anos depois de Fils, Serge Doubrovsky continua a suscitar polêmica sobre os limites entre ficção e realidade. Professor de literatura francesa das Universidades de Nova York e Paris, ele afirma que “quando se escreve autobiografia, tenta-se contar toda sua história, desde as origens. Já na autoficção, pode-se recortar a história em fases diferentes, dando uma intensidade narrativa própria do romance”. Autor de Retrato desnatural e Cantos do mundo, o escritor Evando Nascimento afirma que, na autobiografia, os limites entre ficção e realidade são bem delineados. A ponto de o leitor saber que se trata de um romance que tem compromisso com a verdade da vida do autor, “embora aqui e ali esse compromisso possa ser traído”. Já na autoficção, esses limites se embaralham bastante, principalmente por que os nomes do autor, do narrador e do personagem coincidem. Na maior parte das vezes, a autobiografia lida com fatos passados. Já a autoficção, mesmo quando se refere ao passado, tende a se confundir com o presente, fazendo com que o autor-narrador tenha pouco controle sobre os eventos relatados — distingue Nascimento. Doubrovsky é o primeiro a reconhecer que ele pode até ter criado o termo “autoficção”, mas ressalva que o gênero em si remonta a outros pensadores, como Jean Jacques Rousseau, autor de Confissões; Marcel Proust, de Em busca do tempo perdido, ou Michel de Montaigne, de Ensaios. Para o crítico literário Silviano Santiago, a autoficção não chega a constituir um novo gênero. Na opinião dele, é um estilo que ganha sentido pela vontade de o autor, no ato da criação estética, substantivar dois processos simultâneos, misturando-os com igual peso e medida. — Primeiro, minimiza o que há de confessional no discurso autobiográfico tradicional e, segundo, ativa a carga de subjetividade que há em todo e qualquer discurso ficcional — analisa. No Brasil, Santiago relata o caso de dois escritores que transitaram com igual desenvoltura tanto pela autoficção quanto pela autobiografia: José Lins do Rego e Oswald de Andrade. Do primeiro, cita Menino de engenho, autoficção, e Meus verdes anos, autobiografia. Do segundo, Memórias sentimentais de João Miramar, autoficção, e Sob as ordens de mamãe, autobiografia. — Nas autoficções de José Lins do Rego e de Oswald de Andrade, ficcionaliza-se o discurso autobiográfico que estava patente, de modo gritante, nas respectivas “memórias”, escritas ao final da vida de um e do outro. Autoficções são textos vivos e atuais. Já autobiografias são como que textos mortos, talvez à espera de resgate — compara. Santiago já teve dois de seus livros, O falso mentiroso e Histórias mal contadas, enquadrados na categoria de autoficção. — Acho correta a classificação. Se há reducionismo, ele não está na etiqueta. Está no modo como se desenvolve a leitura do meu texto, seja romance, conto, poema ou até mesmo ensaio — pondera. O próprio Santiago, ao escrever o posfácio de Poltrona 27, conceituou o romance de Carlos Herculano Lopes como “autoficcional”, graças à combinação entre ficção, realidade e memória. Mas será que essa terminologia agrada ao escritor? — Em nenhum momento, digo com toda sinceridade, estava pensando em fazer autoficção. Só me dei conta disto, se é que realmente fiz, quando li o posfácio feito por Silviano Santiago, que muito me honrou e no qual ele o situa nesta categoria —afirma Lopes. Segundo o autor de A dança dos cabelos, Sombras de julho e O vestido, todas as histórias contadas em Poltrona 27 são verdadeiras. — Não inventei nada. Apenas troquei alguns nomes, por motivos óbvios, e nomeei a minha cidade como Santa Marta e não como Coluna, seu nome real — ressalva. A tal “poltrona 27” a que se refere o título é aquela que, um dia, alguém garantiu ser a mais segura para quem viaja pelas péssimas estradas brasileiras. Se a poltrona não varia nunca, o itinerário também não. De Belo Horizonte a Coluna, no Vale do Rio Doce, e da pequena cidadezinha de nove mil habitantes de volta à capital. — É inegável que toda boa literatura, ou pelo menos a que pretenda ser, tem muito do autor: da sua vivência, da sua infância, da sua maneira de enxergar o mundo. Em todos os meus livros, é inegável, tem também um pouco, ou muito de mim. No caso de Poltrona 27, quando escrevi o romance, estava apenas querendo registrar histórias reais, muitas vividas por mim, e outras mais antigas, que ouvi da infância, como a dos amigos libaneses — revela Lopes, que anuncia, para breve, o lançamento de O estilingue, que define como “livro de memórias infantis”. Fidedignidade A exemplo de Carlos Herculano, a escritora e socióloga Ivana Arruda Leite foi buscar inspiração em suas memórias afetivas das décadas de 1960 e 70 para redigir Eu te darei o céu. No livro, ela revisita inúmeros fatos históricos, como a inauguração de Brasília, o apogeu da Jovem Guarda e a morte do presidente Kennedy, a partir da ótica bem humorada de uma jovem fã de Roberto Carlos. Não por acaso, o título do livro faz alusão a um dos muitos sucessos do cantor. — Um texto autoficional, ou uma biografia romanceada (termo que prefiro usar), é aquele em que o autor se debruça sobre a sua história pessoal sem compromisso de fidedignidade, podendo criar outras tramas e outros personagens em cima — define Ivana. Para a autora de Alameda Santos, Hotel Novo Mundo e Falo de mulher, apesar das similaridades, não é ela que está no livro. — Embora haja muitas semelhanças, a personagem de Eu te darei o céu não sou eu, aquela não é minha família e nem meus amigos são exatamente aqueles. O final do livro, por exemplo, é totalmente inventado — acrescenta Ivana. Para o escritor e crítico literário Miguel Sanches Neto, o que caracteriza a autoficção é a indecisão entre o vivido e o inventado. — O leitor está sempre se questionando o que é verdade e o que é invenção — salienta. De sua obra, o livro mais assumidamente autoficcional é Chove sobre minha infância. — Neste romance, a minha vida e a de meus familiares são usadas para construir um romance. São vidas reais e episódios factuais. Mas eu uso uma estrutura romanesca, faço descrições que não são memorialísticas e crio episódios falsos — conta. — A carta da irmã do narrador, por exemplo, que é uma das chaves do livro, é totalmente fictícia. Assim como a cena final do romance, a volta à cidade da infância — exemplifica Neto, que reconhece traços de auto-ficção em dois outros livros de sua carreira: o romance Chá das cinco com o vampiro e alguns contos de Hóspede secreto. — O mais importante para mim é que a autoficção, seja ela egocêntrica ou não, recoloca o humano no centro do literário. Tira o interesse da linguagem e reaproxima o homem por trás da escrita do leitor diante do livro. Este é o grande ganho — valoriza. Mas qual teria sido o romance que inaugurou a autoficção no Brasil? Na opinião de Neto, são dois: À mão esquerda, de Fausto Wolff e Quase memória, de Carlos Heitor Cony. No primeiro, Wolff se aproveita de uma narrativa fragmentada e não linear para contar a história de Percival von Traurigzeit, jornalista gaúcho que nasceu numa colônia alemã no início dos anos 1940, e seus antepassados. Ao longo de quatro séculos, À mão esquerda relembra fatos marcantes da história do Brasil, como a imigração alemã e a Coluna Prestes. No segundo, Cony reconstrói a trajetória do pai, o jornalista Ernesto Cony Filho, no Rio de Janeiro dos anos 1940 e 50. A história começa quando o personagem-narrador recebe um embrulho sem remetente na recepção do hotel onde costuma almoçar. Logo, identifica a letra no envelope como sendo a de seu pai, morto há dez anos. Não incluo Quase memória entre meus livros favoritos. Ao contrário de Pilatos, que é o de que mais gosto, não é um livro que me representa. Escrevi Quase memória em 23 dias, por pressão do editor — relata Cony. Ambiguidade Literária Para a professora Ana Maria Lisboa de Mello, o primeiro romance autobiográfico (ou autobiografia ficcional, como preferem alguns teóricos) da literatura brasileira é O Ateneu, de Raul Pompéia. Nele, o autor transfere para a figura do narrador Sérgio, o aluno de um colégio interno chamado Ateneu, muitas de suas memórias de infância e adolescência, algumas delas vividas também em um internato, o Colégio Abílio, no Rio de Janeiro. — Embora não tenha a identidade entre narrador e autor, própria da autoficção, o romance joga com a ambiguidade entre o real e o ficcional o tempo todo —justifica Ana Maria. Da nova geração da literatura brasileira, também são considerados representantes da autoficção: Cristovão Tezza, autor de O filho eterno; Tatiana Salem Levy, de A chave de casa, e Ricardo Lísias, de Meus três Marcelos — além dos já citados Carlos Herculano Lopes, Ivana Arruda leite e Miguel Sanches Neto. Lá fora, os principais nomes são o norte-americano Paul Auster, autor de A invenção da solidão; o sul-africano J. M. Coetzee, de Diário de um ano ruim, e o espanhol Enrique Vila-Matas, de Paris não tem fim, entre outros. Autor do romance Areia nos dentes e dos contos A página assombrada por fantasmas, Antônio Xerxenesky afirma que, em mãos erradas, a autoficção pode ser um tanto perigosa. — Assim como a metaficção e outros dispositivos, pode ser usada por pura pirotecnia, sem propósito maior do que dar uma aparência contemporânea ao livro e criar a ilusão de que algo “diferente” está acontecendo ali — alerta. Da mesma forma, em mãos habilidosas como as do espanhol Enrique Vila-Matas, a autoficção ganha em potência, tornando-se uma espécie de declaração filosófica sobre as fronteiras entre real e ficção. Alguns bons exemplos disso, destaca Xerxeneskv, são Paris não tem fim e Doutor Pasavento. — A autoficção não tem qualquer compromisso com uma verdade factual. Ela se diverte justamente com o jogo, com as fissuras do real, com a ideia de que toda realidade é ponto de vista e que, a partir de pequenos dados reais, podemos inventar uma porção de outros eventos. O quanto Paris na tem fim tem de verdade? Não sabemos, nunca saberemos. E está tudo bem — minimiza. Entre a nova geração, a internet desempenha papel importante na propagação da autoficção. Segundo Luciene Almeida de Azevedo, doutora de teoria literária da Universidade Federal de Uberlândia (UFU), o mundo virtual potencializa uma vontade de ver e ser visto, comentar e ser comentado. — Como nossos escritores ainda lutam pela profissionalização, a internet democratizou tudo e ofereceu a oportunidade de um salão literário virtual, onde o escritor pode se autopublicar e autopromover. Não arriscaria dizer que a autoficção é produto direto do mundo virtual, mas acho que algo do modo de funcionamento do termo tem a ver com a dinâmica da espetacularização midiática — afirma Luciene. Diana Klinger, doutora em letras da Universidade Estadual do Rio de Janeiro (UFRJ), concorda com a opinião de Luciene. Autora da tese Escritas de si, escritas do outro: autoficção e etnografia na narrativa latino-americana contemporânea, Diana vai além, e enxerga por trás do fenômeno editorial uma certa ingenuidade: — Destacaria, sim, um certo narcisismo característico da cultura contemporânea, reforçado pelos meios de comunicação de massa e as mídias sociais, assim como pela cultura da celebridade que é fomentada pela indústria editorial e indiretamente (talvez de forma ingênua) pela crítica e festas literárias — afirma. Tudo é ficção Para Daniel Galera, autor de Dentes guardados, Até o dia em que o cão morreu e Cordilheira, entre outros, a biografia de uma pessoa é sempre uma ficção entre muitas possíveis, não importando qual seja o motivo ou o ponto de vista pelo qual é narrada: a própria pessoa, um biógrafo, um parente ou um inimigo. — Podemos ver a obra de quase todo escritor como a ficcionalização de sua experiência pessoal, por mais que seu estilo disfarce isso. A grande questão é: o que o leitor tem a ganhar vendo a coisa por essa perspectiva? Prefiro ver toda ficção, inclusive a autoficção, pelo viés da fábula — afirma. Para Galera, dividir a ficção entre “autobiográfica” e “não autobiográfica” é hipocrisia. — A ficção tem existência autônoma e, na maioria dos casos, se torna mais interessante se lida dessa perspectiva. A relação da história com a vida do autor é um dado interessante, sim, merece curiosidade, mas é secundário — salienta o escritor gaúcho, que rejeita o rótulo de autoficção para qualquer um de seus livros. — Não sou personagem de nenhum deles justifica. Daniel Galera não está sozinho. Marcelo Mirisola também refuta a distinção de romances, contos e ensaios entre ficção ou autoficção. — A meu ver, tudo é ficção. Na maioria das vezes, ficção precária: as notícias que você lê nos jornais, o bom dia que você dá ao porteiro ou, então, o orgasmo da mulher amada, tudo é ficção, menos o mensalão — brinca o autor de Joana a contragosto, Animais em extinção e O azul do filho morto. Segundo Mirisola, a única diferença é que algumas ficções são construídas e assumidas como irreais e outras, paródias de realidades igualmente fugidias e intangíveis. — No entanto, o ponto de partida da realidade e da ficção é o mesmo. O resto é invenção — defende. Para o autor, todos nós distorcemos os fatos da mesma maneira. E isso, garante, não é privilégio dos escritores e dos artistas. Quando indagado sobre como definiria seus livros, é sucinto: — Minha literatura é a conciliação, ou melhor, a mistura melhorada de ficção e realidade. Se o livro é bom, para que se preocupar com terminologias? Os fatos de estilo da autoficção As características mais recorrentes das obras que jogam com elementos ficcionais e autobiográficos em suas narrativas · Autor, narrador e protagonista têm o mesmo nome (coincidência onomástica); · O tempo presente é predominante na narrativa; · Os limites entre memória, ficção e realidade se confundem; · Narrativa fragmentária, descentrada e não linear; · Sensação de work in progress, como se o leitor participasse da escrita do romance; · Postura de perplexidade e de questionamento do leitor. André Bernardo
Enviado por Germino da Terra em 10/12/2012
Copyright © 2012. Todos os direitos reservados. Você não pode copiar, exibir, distribuir, executar, criar obras derivadas nem fazer uso comercial desta obra sem a devida permissão do autor. Comentários
|
Site do Escritor criado por
Recanto das Letras