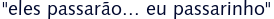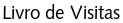O romancista e suas personagens1, por François Mauriac. Apêndice do romance Thérèse Desqueyroux no volume da Cosac & Naify Edições (tradução de Samuel Titan Jr.)
A humildade não é a virtude dominante entre os romancistas. Não temem se arrogar o título de criadores. Criadores! Êmulos de Deus! Na verdade, são seus imitadores. As personagens que inventam não são absolutamente criadas, se é que a criação consiste em fazer algo a partir do nada. Nossas supostas criaturas são formadas de elementos tomados ao real; combinamos, com mais ou menos destreza, o que nos fornecem a observação dos outros homens e o conhecimento que temos de nós mesmos. Os heróis de romances nascem das núpcias que o romancista contrai com a realidade. Nos frutos dessa união, é perigoso pretender delimitar o que pertence propriamente ao escritor, o que ele reencontra de seu e o que o exterior lhe forneceu. Seja como for, cada romancista pode falar apenas de si mesmo, e as observações a que vou me arriscar dizem respeito somente a mim. Nem é preciso dizer que aqui não levamos em consideração os romancistas que, sob um leve disfarce, são eles mesmos o assunto de seus livros. A bem dizer, todos os romancistas, ainda que não a tenham publicado, começaram por essa pintura direta de sua bela alma e suas aventuras metafísicas ou sentimentais. Um rapaz de dezoito anos não pode fazer um livro senão com o que conhece da vida, isto é, com seus próprios desejos, suas próprias ilusões. Não pode fazer outra coisa se não descrever o ovo cuja casca ele acaba de romper. E, de modo geral, ele se interessa demais por si mesmo para pensar em observar os outros. É quando começamos a nos desprender de nosso próprio coração que o romancista começa a tomar forma em nós. Após haver afastado do debate os romancistas que contam sua própria história, tampouco levaremos em consideração aqueles que copiam pacientemente os tipos que encontram a seu redor e que fazem retratos mais ou menos fiéis e semelhantes. Não que, por nada neste mundo, essa forma de romance seja desprezível: ela nasceu diretamente de La Bruyère e dos grandes moralistas franceses. Mas esses moralistas e retratistas não criam, em sentido estrito; imitam, reproduzem, devolvem ao público, conforme a frase de La Bruyère, aquilo que este lhes emprestara; e o público não se engana, pois sai à procura das chaves das personagens e logo inscreve um nome ao pé de cada uma. O público não poderia agir do mesmo modo com o tipo de romance que nos ocupa aqui: aquele em que criaturas novas nascem dessa união misteriosa entre o artista e o real. Esses heróis e heroínas que o verdadeiro romancista põe no mundo e que não copiou de modelos encontrados na vida são seres que seu inventor poderia se gabar de haver tirado por inteiro do nada, por obra de sua força criativa, se ele entretanto não tivesse, a seu redor — não no grande público, nem em meio à massa de seus leitores desconhecidos, mas em sua família, entre seus conhecidos, em sua cidade ou aldeia —, pessoas que julgam se reconhecer nesses seres que o romancista se gabava de ter criado da cabeça aos pés. Há sempre, nessa companhia imediata, leitores que se queixam ou se vexam. Não há caso de romancista que, sem o saber, não tenham magoado ou ferido pessoas excelentes, que o conheceram desde criança ou rapaz, entre as quais ele cresceu e nas quais nem de longe pensava quando escrevia seu romance. Nem por isso elas deixam de reconhecer a si mesmas ou a seus próximos, a despeito de todos os protestos do escritor — não é esta a prova de que, sem o saber, ele hauriu, para compor seus sujeitos, nessa imensa reserva de imagens e de lembranças que a vida acumulou nele? Como esses pássaros ladrões, como essas pegas das quais se diz que colhem no bico os objetos brilhantes e os dissimulam no fundo de seus ninhos, o artista, em sua infância, traz uma provisão de faces, silhuetas, palavras; uma imagem o impressiona, uma opinião, uma anedota... E mesmo que ele mal se dê conta, tudo isso persiste nele, em vez de se aniquilar como nos outros homens; tudo isso, sem que ele saiba, fermenta, vive uma vida obscura e assomará quando chegar a hora. Nesses ambientes sombrios em que escoou sua infância, nessas famílias ciosamente fechadas aos estranhos, nessas regiões perdidas, nesses rincões de província por onde ninguém passa e onde parece que nada se passa, havia uma criança espiã, um traidor inconsciente de sua traição, que captava, registrava, retinha, sem o saber, a vida de todo dia em sua complexidade obscura. Uma criança parecida às outras e que não despertava suspeitas. Talvez lhe dissessem com frequência: “Vá logo brincar com os outros! Sempre agarrado à barra da saia... Sempre tens de escutar o que conta a gente grande”. Quando, mais tarde, recebe cartas furiosas daqueles que julgaram se reconhecer em tal ou qual personagem, sente indignação, espanto, tristeza... Pois o romancista é de uma completa boa-fé: conhece suas personagens, sabe muito bem que não se parecem em nada a essa boa gente que, para seu desconsolo, acaba de magoar. Entretanto, não está de consciência inteiramente tranquila. Para falar de meu próprio caso, há uma primeira causa bastante óbvia de mal-entendido entre o romancista e as pessoas que julgam se reconhecer em seus livros. Não sou capaz de conceber um romance sem ter presente ao espírito, em seus menores recantos, a casa que lhe servirá de teatro; é preciso que as aleias mais secretas do jardim me sejam familiares e que toda a região ao redor seja minha conhecida — e não por um conhecimento superficial. Alguns confrades me contam que escolhem, para moldura do romance que estão a meditar, alguma aldeiazinha que desconheciam até então, e que vivem num hotel pelo tempo necessário à composição do livro. É justamente disso que me sinto incapaz. Não serviria de nada estabelecer-me, mesmo por um longo período, numa região inteiramente estranha. Nenhum drama pode começar a viver em meu espírito se não o situo nos lugares em que sempre vivi. Preciso seguir minhas personagens de quarto em quarto. Muitas vezes, sua face permanece indistinta para mim, conheço apenas sua silhueta, mas sinto o cheiro de mofo no corredor que atravessam, não ignoro nada do que sentem, do que ouvem a tal hora do dia e da noite, quando saem do vestíbulo e avançam para a escadaria. Essa necessidade me condena a uma certa monotonia de atmosfera, que em minha obra é quase sempre a mesma, de um livro a outro. Ela me obriga sobretudo a me servir de todas as casas, de todos os jardins em que vivi ou que conheci desde minha infância. Mas as propriedades de minha família e de meus conhecidos já não bastam mais, e sou obrigado a invadir os imóveis dos vizinhos. Foi assim que me aconteceu, em toda inocência, de desencadear em imaginação os mais terríveis dramas no interior dessas respeitáveis casas de província onde, às quatro horas, em salas de jantar sombrias, recendendo a damasco, as velhas senhoras não ofereciam ao menino que fui o arsênico de Thérèse Desqueyroux, e sim as melhores uvas moscatel da videira, cremes confeitados, marmelada e um grande copo, um pouco enjoativo, de xarope de orchata. Quando o menino de outrora se torna romancista, os sobreviventes de seus anos de infância, à leitura dessas história medonhas, fatalmente reconhecerão horrorizados sua casa, seu jardim. A própria violência do drama que o romancista inventou levava-o a julgar que não se produziria nenhum mal-entendido, nenhuma confusão. Parecia-lhe impossível que essas pessoas respeitáveis, cuja casa tomara emprestado, pudessem imaginar que lhes atribuía as paixões e os crimes de seus tristes heróis. Mas isso implicaria desconhecer o lugar que ocupa, nas vidas provincianas, a antiga residência jamais abandonada. Os habitantes das cidades, que passam com indiferença de um apartamento para outro, esqueceram-se de que, na província, a casa do dono, os estábulos, o tanque de roupa, o galinheiro, o jardim, a horta acabam por se unir à família como o caramujo à concha. Não seria possível tocá-los sem a tocar. E isto é tão verdade que o imprudente e sacrílego romancista, julgando ter se servido apenas da casa e do jardim, não se dá conta de que uma certa atmosfera permanece retida ali, a mesma atmosfera da família que a habitava. Às vezes, um prenome fica por ali, como um chapéu de sol esquecido no vestíbulo, e, por uma associação inconsciente de ideias, o romancista batiza com ele algum de seus heróis pecaminosos — o que acaba de torná-lo suspeito dos mais negros desígnios. Nessas casas, nessas velhas propriedades de sua infância, o romancista introduz seres diferentes daqueles que as habitaram; viola o silêncio desses salões de família, onde sua avó, sua mãe tricotavam sob a lamparina, pensando em seus filhos e em Deus. Mas esses personagens, esses invasores, qual relação mantém exatamente com os seres vivos que o romancista conhecera ali? No que me diz respeito, parece-me que, em meus livros, as personagens de segundo plano são aquelas que foram emprestadas da vida, diretamente. Posso afirmar como regra que, quanto menor a importância da personagem, maiores são as chances de que tenha sido tomada tal e qual da realidade. E isso é compreensível: trata-se, como se diz no teatro, de um figurante. Necessários a ação, os figurantes se apagam diante do herói da narrativa. O artista não tem tempo de moldá-los, de recriá-los. Utiliza-os assim como os encontra em suas lembranças. De modo que não teve de ir muito longe para encontrar essa criada, esse camponês que cruzam sua obra. Mal teve o cuidado de embaralhar um pouco a imagem que sua memória guardara. Mas os outros, esses heróis e heroínas de primeiro plano, tantas vezes miseráveis, em que medida também são réplicas de viventes? Em que medida são fotografias retocadas? Nesse ponto, será difícil seguir de perto a verdade. O que a vida fornece ao romancista são os contornos de uma personagem, o esboço de um drama que poderia ter acontecido, conflitos medíocres que somente sob outras circunstâncias poderiam ter interesse. Em suma, a vida fornece ao romancista um ponto de partida que lhe permite aventurar-se numa direção diferente daquela que a vida tomou. Ele torna efetivo o que era apenas virtual, torna reais o que eram vagas possibilidades. Às vezes, simplesmente toma a direção contrária daquela que a vida seguiu; inverte os papéis; em certo drama que conheceu, procura o verdugo na vítima e na vítima, o verdugo. Aceitando os dados da vida, tomei a contramão da vida. Entre as várias fontes de Thérèse Desqueyroux, por exemplo, esteve certamente a visão que tive, aos dezoito anos, numa sala de tribunal, de uma magra envenenadora entre dois gendarmes. Lembrei-me dos depoimentos das testemunhas, utilizei a historia das receitas falsas de que a acusada se servira para conseguir os venenos. Mas para por aí meu empréstimo direto da realidade. Com o que a realidade me fornece, vou construir uma personagem toda diferente e mais complicada. Os motivos da acusada haviam sido, na verdade, de ordem mais simples: amava outro homem que não seu marido. Nada mais de comum com a minha Thérèse, cujo drama consistia em nem sequer saber o que a impelira ao gesto criminoso. Isso quer dizer que essa Thérèse, alma conturbada e apaixonada, inconsciente de seus móbiles, não exibe nenhuma característica em comum com as criaturas que o romancista conheceu? É bem verdade que em Paris, no ambiente estreito em que vivemos, onde as conversas, os livros, o teatro habituam a maior parte das pessoas a se ver claramente, a deslindar seus desejos, a dar a cada paixão que as domina o nome devido, temos dificuldade de imaginar um mundo camponês, no qual uma mulher não compreende nada de si mesma tão logo o que se passa em seu coração saia da norma, por pouco que seja. Desse modo, sem pensar em nenhuma mulher em particular, pude impelir minha Thérèse numa certa direção graças a todas as observações dessa ordem, ao longo da vida. O mesmo vale para a personagem principal do Noeud de vipères: o que há de mais superficial nela, as grandes linhas exteriores de seu drama ligam-se a uma lembrança precisa. Isso não impede que, exceto por esse ponto de partida, minha personagem seja não apenas diferente, mas esteja ainda nas antípodas daquela que de fato viveu. Apossei-me de circunstâncias, de certos hábitos, de um certo caráter que de fato existiram, mas eu os reuni em torno de uma outra alma. Essa alma seria então obra minha? De que é feita sua misteriosa vida? Eu dizia que os heróis de romance nascem das núpcias que o romancista contrai com a realidade. Essas formas que a observação nos fornece, esses rostos que nossa memória conservou, nós os preenchemos, nós os nutrimos de nós mesmos ou pelo menos de uma parte de nós mesmos. Qual parte exatamente? Por muito tempo aceitei, seguindo as teorias hoje voga, que nossos livros libertavam-nos de tudo o que refreamos: desejos, cóleras, rancores...; que nossas personagens eram bodes expiatórios, carregados de todos os pecados que não cometemos, ou então super-homens, semideuses que encarregamos de consumar todos os atos heróicos diante dos quais fraquejamos; que transferimos para elas todas as nossas febres, sãs ou malsãs. Nessa hipótese, o romancista seria uma personagem verdadeiramente monstruosa, que encarregaria outras personagens inventadas de ser infames ou heróicas em seu lugar. Seríamos uma gente virtuosa ou criminosa por procuração, e a vantagem mais óbvia do ofício seria a de nos dispensar de viver. Mas parece-me que essa interpretação não dá conta suficiente daquele formidável poder de deformação e ampliação que é um elemento essencial de nossa arte. Nada do que vivem nossos heróis tem as mesmas proporções do que sentimos nós mesmos. Pode bem acontecer que, a frio, acabemos por reencontrar em nosso coração o ínfimo ponto de partida de tal reivindicação que irrompe num de nossos heróis, mas tão desmedidamente ampliado que não resta quase mais nada de comum entre o que sentiu o romancista e o que se passa com seu personagem. Imaginemos um escritor, um pai de família que, após a jornada de trabalho e com a cabeça ainda repleta do que acaba de compor, senta-se para a refeição noturna a uma mesa em que as crianças riem, brigam, contam histórias de pensionato. Sente-se fugidiamente agastado ou irritado... Sofre por não poder falar de seu próprio trabalho... Por um segundo, sente-se à parte, desdenhado... Mas ao mesmo tempo que seu cansaço desaparece, a impressão se dissipa e, ao final da refeição, nem lhe virá à mente. Pois bem, a arte do romancista é uma lupa, uma lente forte o bastante para ampliar essa imitação, para transformá-lo em monstro, para nutrir a fúria do pai de família em Noeud de vipères. De um ímpeto mal-humorado a capacidade de amplificação do romancista faz uma paixão furiosa. E não apenas ele amplifica desmedidamente e de um nada faz um monstro, mas também isola, destaca sentimentos que em nós são enquadrados, contidos, suavizados, combatidos por uma multidão de sentimentos contrários. E é também por isso que nossas personagens não apenas não nos representam, mas ainda nos traem, pois ao mesmo tempo que amplifica, o romancista simplifica. É forte a tentação de conduzir o bem a uma única paixão, e é difícil resistir a ela. O romancista sabe que a crítica o elogiará por ter criado um tipo. E isso lhe parece tão fácil! Assim, graças a esse duplo poder de amplificar formidavelmente em suas criaturas alguns traços mal discerníveis em seu próprio coração e, feito isso, de isolá-los, destacá-los, repitamos uma vez mais que, longe de ser representado por suas personagens, o romancista é quase sempre traído por elas. Mas agora chegamos à irremediável miséria da arte do romancista. Dessa arte tão louvada e tão difamada, devemos dizer que, se atingisse seu objetivo — a complexidade de uma vida humana —, ela seria incomparavelmente o que existe de mais divino no mundo; a promessa da antiga serpente seria mantida e nós, romancistas, seríamos semelhantes a deuses. Mas como estamos longe disso! O drama dos romancistas da nova geração está em terem compreendido que os retratos feitos segundo os modelos do romance clássico não têm nada a ver com a vida. Mesmo os maiores, Tolstói, Dostoiévski, Proust, puderam apenas se aproximar desse tecido vivo com milhões de fios cruzados que é um destino humano, sem atingi-lo de verdade. O romancista que chegou a compreender o que ele deve restituir, ou bem escreverá suas historietas sem confiança e sem ilusão, segundo as fórmulas tradicionais, ou bem se sentirá tentado pelas pesquisas de um Joyce, de uma Virginia Woolf, esforçando-se por descobrir um procedimento — o monólogo interior, por exemplo — que exprima esse imenso mundo emaranhado, sempre cambiante, jamais imóvel, de uma consciência humana, e esgotando-se por oferecer dele uma visão simultânea. E há mais: nenhum homem existe isoladamente, estamos todos enredados profundamente na massa humana. O indivíduo, como o romancista o estuda, é uma ficção. É por comodidade e por facilidade que ele retrata seres destacados dos demais, como o biólogo transporta uma rã a seu laboratório. Se quer atingir o objetivo de sua arte, que é o de retratar a vida, o romancista deverá esforçar-se por reproduzir essa sinfonia humana em que todos estamos enredados, em que todos os destinos prolongam-se e penetram-se mutuamente. Mas é de se temer que aquele que cede a essa ambição, por maior que seja seu talento ou seu gênio, não consiga mais que um fracasso. Existe algo de desesperado na tentativa de um Joyce. Não creio que algum artista chegue jamais a superar a contradição que é inerente à arte do romance. Por um lado, se tem a pretensão de ser a ciência do homem — mundo pululante que dura e que se esvai —, ele não sabe fazer mais que isolar e colocar sob sua lente uma paixão, uma virtude, um vício, e amplificá-los desmedidamente: pai Goriot ou o amor paternal, a prima Bette ou a inveja, o pai Grandet ou a avareza. Por outro lado, o romance tem a pretensão de retratar a vida social, mas não vai além de indivíduos seccionados da maior parte das raízes que os prendiam ao grupo. Numa palavra: no indivíduo, o romancista isola e imobiliza uma paixão, e, no grupo, isola e imobiliza um indivíduo. Ao trazê-lo, pode-se dizer que esse pintor da vida exprime o contrário da vida: a arte do romancista é um fracasso. Mesmo os maiores: Balzac, por exemplo. Diz-se que retratou uma sociedade: na verdade, justapôs, com força admirável, numerosas amostras de todas as classes sociais sob a Restauração e a Monarquia de Julho, mas cada um de seus tipos é tão autônomo quanto uma estrela. Não são ligados um a outro exceto pelo fio tênue da intriga ou por uma paixão miseravelmente simplificada. Não há dúvida de que, em nossos dias, a arte de Marcel Proust foi a que melhor superou essa contradição inerente ao romance e que melhor chegou a retratar os seres sem imobilizá-los e dividi-los. Sendo assim, devemos dar razão àqueles que pretendem que o romance é a primeira das artes. Ele o é, de fato, em virtude de seu objeto, o homem. Mas não podemos contestar aqueles que o desdenham, uma vez que, em quase todos os casos, ele destrói seu objeto ao decompor o homem e falsificar a vida. Contudo, é inegável que nós, romancistas, temos a sensação de que tal ou qual de nossas criaturas é mais viva que as outras. A maioria está morta e sepultada no esquecimento eterno, mas há algumas que sobrevivem, que nos rondam como se não tivessem dito sua última palavra, como se esperassem de nós sua consumação derradeira. Apesar de tudo, esse é um fenômeno que deve encorajar o romancista e reter sua atenção. Essa sobrevida é bem diferente daquela dos tipos célebres do romance, que, por assim dizer, seguem pendurados na história da literatura como as telas famosas nos museus. Não se trata aqui da imortalidade, na memória dos homens, do pai Goriot ou da senhora Bovary; mais humildemente e sem dúvida por menos tempo, sentimos que tal personagem, tal mulher de um de nossos livros ainda ocupa alguns leitores, como se esperassem desses seres imaginários que os esclarecessem sobre si mesmos ou lhes dessem a solução de seu próprio enigma. Em geral, essas personagens, mais vivas que seus companheiros, são de contorno menos definido. A parte do mistério, do incerto, do possível é maior nelas que nas outras. Por que Thérèse Desqueyroux quis envenenar seu marido? Esse ponto de interrogação contribuiu muito para reter entre nós sua sombra dolorosa. A partir dela, algumas leitoras puderam refletir sobre si mesmas e procurar, ao lado de Thérèse, alguma luz sobre seu próprio segredo; uma cumplicidade, talvez. Essas personagens não se sustentam por sua vida própria: são nossos leitores, e a inquietação de seus corações vivos que penetra e infla esses fantasmas, que lhes permite flutuar um instante pelos salões da província, ao redor da lamparina, onde uma moça lê até tarde e encosta o cortador de páginas contra sua face febril. Ao romancista consciente de ter fracassado em sua ambição de retratar a vida resta então este móvel, esta razão de ser: sejam quais forem, suas personagens agem, exercem uma ação sobre os homens. Fracassam na tarefa de representá-los, mas conseguem perturbar sua quietude, despertam-nos, o que já não é nada mal. O que dá ao romancista a sensação de fracasso é a enormidade de sua ambição. Mas tão logo se resigne a ter uma ação vitalícia sobre alguns de seus contemporâneos, mesmo que por meio de uma arte elementar e factícia, ele não se sentirá tão mal aquinhoado. O romancista larga suas personagens pelo inundo e as encarrega de uma missão. Há heróis de romance que pregam, que se devotam ao serviço de uma causa, que emprestam seu brilho a uma grande lei social, uma ideia humanitária, que se oferecem como exemplo... E aqui toda prudência do autor será pouca. Nossas personagens não estão a nosso serviço. Podem ser de espírito perverso, compartilham nossas opiniões e se recusam a propagá-las. Conheço algumas que tomam a contramão de todas as minhas ideias, que são diabolicamente anticlericais, por exemplo, e cujas opiniões me fazem corar. De resto, é mau sinal que um herói de nossos livros torne-se nosso porta-voz. Quando se dobra docilmente ao que esperamos dele, isso prova, o mais das vezes, que é desprovido de vida própria e que temos em nossas mãos apenas seus despojos. (...) segue a seguir, em o romancista... (II) 1 Conferência proferida em 1932, publicada em 1933 e recolhida in Oeuvres romanesques et théâtrates complètes, vol. II (Paris: Gallimard/Plêiade, 1979). (N.E.) François Mauriac
Enviado por Germino da Terra em 26/10/2012
Copyright © 2012. Todos os direitos reservados. Você não pode copiar, exibir, distribuir, executar, criar obras derivadas nem fazer uso comercial desta obra sem a devida permissão do autor. Comentários
|
Site do Escritor criado por
Recanto das Letras