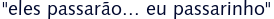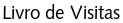O convívio, de João Gilberto Noll, em A máquina de ser — Editora Nova Fronteira
Você está me ouvindo? Não? Ele parecia me escutar e suava, exibia todo seu esforço em captar minha voz. Pois ele não falava, ainda estava aprendendo a conviver. Aliás, aposto que ele próprio ainda não se entendia. E, claro, não se fazia entender. Quando tentava se expressar, era tal a sina, que sobravam grunhidos, chorava, até defecava sem perceber, molhava as calças e, assim mesmo, não obtinha o menor sucesso. Na fisionomia afogueada, via-se que tinha perdido o fio de sua meada. E algum dia o tivera? Depois dessas contendas com a palavra, retirava-se como um pugilista perdedor se dirige calado ao recesso do vestiário. Nessas ocasiões eu o seguia. Pedia que não trancasse a porta do banheiro que eu queria ajudá-lo na higiene —, talvez o capítulo mais exigente nessas lições de convívio. Limpava-o entre as coxas, e logo mostrava o papel sujo perto do seu nariz e lhe perguntava: Gosta desse cheiro? Ele abanava a cabeça, mas eu não me dava por satisfeita. Aí eu botava o papel sujo no cesto, pegando-o sempre pela nuca, como se faz com o cachorro que, desavisado, comete suas necessidades, sei lá, em cima do sofá. Pega-se o sujeito pelo cangote e se faz com que ele cheire a porcaria que gerou fora dos arcanos do asseio. Vários colegas meus me cumprimentavam pelo trabalho abnegado de ir até os confins na bestialidade do aprendiz. Depois desses episódios eu passava pela secretaria para assinar o livro de presença; lá todos me olhavam com alguma admiração, não sem uma ponta de inveja. Nas festas de amigo oculto, nas antevésperas do Natal, levávamos os pupilos. O meu naquele ano veio com uma espécie de camiseta da Seleção; era uma graça olhá-lo com deleite por seus progressos rumo à disposição das trocas. Nessa tarde, depois dos festejos, levei o meu pupilo para passear no centro da cidade. Sem muita imaginação entramos em um McDonald’s, onde lhe paguei uma Coca, um hambúrguer e batatinhas fritas. Se ele quisesse, poderia lhe pagar também um sorvete. Depois disso tudo, percebi que não me sentia com mais nada para lhe oferecer. Pensei que eu talvez precisasse tanto quanto ele da vocação para os encontros, porque eu morava sozinha, sim, e a cada dia mais recuava diante das relações que não fossem as do Dispensário, onde eu entrava a cada manhã e de onde eu saía no fim de tarde. Aí ele latiu em pleno McDonald’s. Sim, latiu, foi isso exatamente o que eu disse! Mas digo também que ele não era um cachorro. Era qualquer coisa que eu quisesse. E no mais eu estava ali, procurando decifrar aquele ser vivendo apenas nos limites de sua miserável fortaleza. Ele agora bocejava dormindo sobre o cotovelo dobrado sobre a mesa. Ninguém reparou no latido. Em volta eram quase todos gordos. E ele ali na minha frente não fugia à regra. Dessa vez peguei-o no colo e saí do McDonald’s para deixá-lo no Reformatório antes que os portões fossem trancados. Abanei por entre as grades até vê-lo desaparecer. No caminho de pedra entre os canteiros, não se dignou a voltar a cabeça para mim uma única vez. Ele era assim, só fazia o que queria, sem a menor consciência do entrechoque entre os desejos no entorno. O desejo para ele não comportava gestos previamente estudados. Entre não olhar para mim enquanto andava para a porta, onde uma funcionária o esperava, ou voltar a cabeça em despedida daquela que lhe pagara um lanche no McDonald’s, entre as duas opções não havia para ele menor diferença. Ele só seguia, seguia sempre, coitado... Ali, observando a porta se fechar tragando o meu inerme companheiro na tarde de raro sol de dezembro, ali, pensei seriamente em aplicar-lhe alguns corretivos francamente duros, para que ele fosse marcado para sempre com a insanidade a que pode chegar o trato humano. Que a partir desse novo tratamento, ele viesse e me pedisse colo com a maior fluência. Eu já estava perdidamente apaixonada por isso que ainda não era humano. Para viabilizar essa paixão seria capaz de desfigurá-lo até. Extraí-lo de sua imagem e cunhar à força uma segunda figura —, esta mais domesticável, ou melhor ainda, cândida. Ele não latiria mais. E passaria os fins de semana na minha casa, comendo, gostando, armando um sorriso na hora de partir para que eu não o esquecesse assim na santa paz. Num desses fins de semana eu o presentearia com um brinco para sua orelha esquerda. Ah, mas isso tudo seria demais, e eu não queria antecipar o impossível, sabe? Ele por enquanto dorme na minha cama. Não quero acostumá-lo mal. Logo-logo o deitarei no sofá da sala. Atualmente deixo-o na minha cama de casal. Ficamos vendo televisão. Aqueles programas humorísticos de sábado à noite. Ele ainda não aprendeu a rir. Nas horas para rir faço cócegas nele. Ele não entende o gesto tresloucado. Mexe os braços para espantar meus irrequietos toques. Por ser assim avaro, geralmente não emite sinais. Apenas se afasta um pouco e continua com a atenção imersa na claridade gasosa da tela em preto-e-branco. Seus olhos parecem afogados nesses movimentos ilhados dentro da caixa cheia de botões, a eles se associa sem discernimento, como encarnado num plácido bebê. Sim, seus olhos não reconhecem o lazer que eu quero atribuir àquele foco cambiante de luz. Então beijo seus olhos. Ele faz um movimento brusco, me deixando a ideia de que o meu trabalho será em vão. Levanto, na frente do espelho do banheiro percebo que devo estar velha para as funções juvenis do meu protegido —, a quem pretendo legar a arte do convívio. Volto para a cama. Ele caiu no sono. Ressona. Acho interessante que adormeça justamente quando me afasto. Pois é, não deve desconsiderar tanto assim a minha presença. Eu já estou viciada em conviver com ele. Vem-me a vontade de acordá-lo, de lhe pôr novamente ao par do fluxo incessante da pessoa que em mim se manifesta. E que ele reconsidere essa pessoa aqui com suas particularidades, pois que ele também tem as suas, se é que estas já existam nele nesse estado avançado como em mim, que nada sou além dessa identidade a serviço das demais. E que essa sua singularidade em formação se deixe friccionar pela minha que já se encontra inteira na dormência dele, na dormência dessa máquina de ser ai ainda incipiente, adormecida agora, soprando no meu olho ressequido a aragem vinda do ventre de seu sono. Ponho-me inteira sobre o lençol lilás, arregimento toda a escuridão para guarnecer meu sono. Sei que minhas pálpebras baixaram e que assim me liberto da visão de fora. Sou arremetida numa paisagem nua de detalhes. Estou caída na poeira, passos adiante imenso lodaçal. Não sei em que direção rumar, inexistem placas. Não sei se posso dar continuidade a essa cena muda pertencente a um enquadramento que me toma e vê. Falta-me tudo para me livrar desse episódio. É aí que sinto na mão um volume compacto. Esse volume pulsa, respira até e tanto que parece vai arrebentar. Olho sob a minha mão: nada há. Aí descubro que a coisa que a minha carne toca não está no lado de cá do sono, onde me encontro, mas permaneceu de fora, justamente na cama, a ressonar. Sei que depende de mim escolher de que lado permanecer. Se ficar aqui, perderei o convívio com esse volume de quem sinto o calor debaixo da mão... Lá no mundo ele andava a ponto de falar. Ou não? Quando duramente provocado a se comunicar, ele inchava, se esturrava todo, antes de me passar um som por sua boca oclusa, som cada vez mais perto do sentido, juro! Eu sempre fora, à minha maneira, uma mulher otimista. De modo que acreditava que ele estaria às vésperas de alcançar uma conversação, mesmo que de poucos segundos por enquanto! Ainda tosca, uma oratória das entranhas, um vômito em vocábulo, não importa. Mas que me fizesse compreendê-lo um pouco além de sua força esganiçada. Eu seguiria o som até que fizesse sentido. Seria tentada por um som que correspondesse minimamente ao que minha cabeça pudesse constituir como mensagem. Foi então que, por uma falta grave dele, grave mas difusa, eu voltei ao pleno governo do meu cérebro, ao meu estado de vigília. Lembro que ainda consegui ver mais nítido as duas partes do meu corpo: uma, feita pela minha solidão com a matéria do meu sono; outra, que só possuía o meu braço e mão acariciando bem desperta o corpo dele, um corpo diga-se de passagem agora bem rarefeito sobre o travesseiro. Ele ainda dormia e parecia pouco a pouco se esvair. Então corri até o espelho para me pintar com meu batom cor de tijolo. Peguei-o como se fosse uma criança de colo, passando um lençol em volta do seu corpo para que ninguém o pudesse ver. Era sábado, o Dispensário não abria. Caminhava depressa, como se tivesse uma criança enferma nos braços. E ele não estava enfermo realmente? Não sei, naquela falta de convívio, eu era capaz de qualquer coisa. Se eu ao menos soubesse para que lado pensar... Então eu estava ali agora. No cais. Pela sirena cavernosa, a barca dava sinal de partir. Comprei as passagens, subi na barca. Logo que cheguei vários fizeram menção de me dar lugar em respeito ao embrulho branco no colo. Naquelas circunstâncias, um oportuno bebê. Quando saí da barca no outro lado da baía, começava a chover. O embrulho estava assustadoramente menor. Nem quis afastar o lençol tentando olhar o semblante da criança. Fui antes à farmácia para comprar o remedinho do ouvido, antes que ele pudesse chorar. O atendente da farmácia era meu conhecido e quis olhar. Falei que não, ele podia acordar. Passou a noite chorando de dor. Paguei e fui saindo à procura de alguém que tivesse de fato jeito para reconhecer essa criança em volta dos meus braços. E que me ajudasse para se fazer alguma coisa. O atendente da farmácia não teria a iniciativa. Seria desastrado quando visse o que eu tinha para mostrar. Por enquanto eu não queria escândalo. Muito menos socorro, já que não havia urgências. Eu só precisava adiar até que a força avulsa que eu ninava estivesse preparada. Atravessei a rua quase a correr, um horror. Até dar de cara com um momento especialíssimo, já conto. Era um momento desses de depois da chuva. O cheiro ainda fresquinho da terra agradecida, no fundo a gala do arco-íris e tudo. De modo que eu já podia destampar o rosto dele. Estava sozinha num canto da praça, sentei num banco quase-quase seco. Então afastei um pouco a ponta do lençol de sobre ele. E tudo foi tão intenso que eu quase nem vi. Vi sim a boca vermelha e tépida a me procurar. Ele estaria febril e delirava? Pouco importava. Abri o botão da blusa e lhe dei de mamar. Havia um convívio ali, enfim... Costumava-se calar o sereno gozo que uma criança poderia disseminar junto à carne materna. Eu era o alimento que aquele mínimo ser em meio às trevas do meu peito demandava. De agora em diante estava irrevogavelmente ligada a ele, quisesse ou não. Pois de quem mais ele teria um peito e esse fogo brando a cada nova mamada? De quem mais? Hein...? Por acaso de ti? João Gilberto Noll
Enviado por Germino da Terra em 30/08/2012
Copyright © 2012. Todos os direitos reservados. Você não pode copiar, exibir, distribuir, executar, criar obras derivadas nem fazer uso comercial desta obra sem a devida permissão do autor. Comentários
|
Site do Escritor criado por
Recanto das Letras