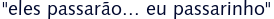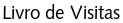Qual é o seu idioma?, por Miguel Sanches Neto na revista Metáfora número 8
Percepções modernas de literatura concluem que não há uma contraposição de estilo e oralidade ROUPAS Em um de seus grandes sucessos, “Com que roupa?” (1929), Noel Rosa cantava um estribilho divertido: “Com que roupa que eu vou /Pro samba que você me convidou?” O boêmio sem dinheiro, com seu único terno estropiado, sofria por não poder se apresentar elegantemente aos amigos. Mais do que uma referência ao vestuário, esta música remete, metaforicamente, aos recursos de linguagem. A pergunta indireta que o poeta faz é: em qual versão da língua portuguesa devo me expressar? E a própria letra, pelas suas palavras e construções de extração popular, indica este idioma outro, em estado de pobreza, totalmente vinculado ao sujeito. O samba teve, na história da naturalização de nossa língua, um papel central, fortalecendo a ideia de que os instrumentos de expressão valem na medida em que remetem a certas identidades. Este deslocamento reforça a crença em uma língua portuguesa que não precisa ser vestida, ou embrulhada para presente, para se fazer artística. A grande maioria dos sambas coloca em circulação, e com grande graça poética, um universo linguístico que não se envergonha de suas origens. E talvez quem melhor represente esta linhagem de menestréis urbanos seja Adoniran Barbosa, com o seu famoso “O samba do Arnesto”, um dos monumentos da cultura brasileira. IDIOMA ESTRANGEIRO Se este suposto rebaixamento ao nível da fala parece ser muito bem aceito no território da música popular, há resistências à mesma tese naquilo que se chama por aí de alta literatura. Na hora de escrever, e para que o indivíduo não seja acusado de desleixado, há uma tendência para a elevação do tom. Usando ainda a metáfora de Noel Rosa, o escritor, principalmente o jovem escritor (e alguns continuam nesta condição por décadas) escolhe a melhor roupa para não fazer feio. Isso gera uma esquizofrenia linguística, explorada por Mário de Andrade em 1928, em seu romance-manifesto Macunaíma. Um menino-homem selvagem, recém-chegado à civilização, e que fala uma versão brasileira da língua portuguesa, erotizada e amaciada, endurece-a completamente na hora de escrever a sua famosa “Carta pras Icamiabas”. Ele se quer lusitano e exagera nos clichês, cometendo equívocos por ser um estrangeiro naquele código. Mário de Andrade ampliou o que havia de risível nesta postura, mas nem sempre ela se manifesta de forma caricata. Assim, se nos distanciamos de uma matriz europeia, ainda acreditamos que um texto é tanto melhor quanto mais literário — entendendo literário aqui como uma roupagem que se quer chique. ESCOLHA Mas uma língua não se distancia do conjunto de pessoas que a cultiva. O que distingue a língua portuguesa nos trópicos não são apenas os grandes livros, mas também e principalmente a prática cotidiana dela, na maioria das vezes em dissonância com os documentos da cultura literária. Na hora de produzir literatura, seja poesia ou ficção, o escritor é colocado diante de uma escolha ética e estética. Em um pequeno ensaio, “Horror ao ideal e outros comentários”, o poeta modernista Dante Milano (1899-1991) deixou um dos mais belos depoimentos sobre o que nos distingue: “Um vocabulário riquíssimo, um colorido precioso, o que é esplendor em outros idiomas, no nosso é artifício ridículo. A índole de nossa língua é a simplicidade, a pureza, a frescura, e uma pobreza humilde e casta [...]. Língua sublimemente popular, que não se adapta à fraseologia culta e artificial. A nossa língua tem raízes no chão e nos chama à realidade. Falam de sua ‘riqueza’. Desprezemos essa riqueza! Entre nós, as palavras que não andam na língua do povo não têm vida, são meros bombons literários”. A simplicidade estilística fortalece nossa identidade e atua para a desliteraturalização dos textos literários, funcionando como forma de franquear a língua escrita aos seus falantes. Não é só uma estratégia de produção mas também de recepção. Afastar-se desta índole popular de que fala Dante Milano é referendar uma pressão colonizadora, exercida no interior do próprio idioma, e uma divisão de classes que promove exclusões pela palavra. Naquilo que poderia ser tido como pobreza de expressão se encontram as nossas potencialidades. MODERNIDADE Esta marca nacional coincide com as percepções modernas de literatura, em que não há uma contraposição de estilo e oralidade. Escrever contemporaneamente é estar atento ao poder formal que as práticas sociais trazem nas suas mutações constantes. Escrever como uma estratégia de escuta estética, com uma energia criadora que ergue estruturas literárias a partir da apropriação dos falares. O idioma com o qual se deve chegar ao público, portanto, é aquele com sentido formador para o escritor e seus personagens. Ou, para usar a expressão de Ernesto Sábato (1911-2011), e que dá titulo a um de seus fragmentos sobre a escrita, é a “linguagem vivente”: “... a única linguagem do artista é a vivente, a linguagem em que se vive, se ama e se morre, já que nos momentos essenciais de nossa existência todos demonstramos ser feitos de idêntica matéria: modesta, precária, popular [...] Muitos escritores preferem empregar palavras presunçosas, em parte porque a ninguém agrada mostrar ás claras que o que diz é uma trivialidade, e além disso porque, atrás desses ruídos, não há autêntica vida, nem autêntica morte: não há mais do que ‘literatura”’. O grande segredo literário então estaria em não nos afastarmos das palavras usadas nos momentos mais importantes da existência, conquistando um poder de verdade que faz da escrita algo inseparável da própria vida. Esta compreensão da natureza biográfica da língua é importante para todos que querem escrever, mas principalmente para quem quer ser lido por um grupo aberto e não apenas dentro das camadas sociais tidas como literariamente letradas. Nossos cronistas sempre se valeram deste idioma despretensioso, conquistando leitores transliterários. IDIOMAS MORTOS Um dos autores contemporâneos que mais radicalizou este uso biográfico do idioma foi Isaac Bashevis Singer (1904-1991), que optou por se expressar em um código em desuso. Diz o narrador de seu romance Sosha (Francis, 2005), alter ego de Singer: “Fui criado em três línguas mortas — hebraico, aramaico e iídiche (alguns não consideram esta última uma língua, absolutamente)” (p.9). Com uma formação religiosa e se identificando com tais velharias, ele se sente um anacronismo completo. Mesmo dominando outras línguas, estas com muito prestigio, o autor, tal como o seu narrador, opta por escrever naquela em que foi amamentado: “Comecei a escrever em hebraico e depois mudei para iídiche, mas os editores rejeitavam tudo que eu mandava para eles. Parecia que eu não conseguia encontrar um estilo que pudesse criar um domínio literário para mim” (p.21). Mas será com estas palavras ancestrais, apesar de completamente inadequadas para a comunicação contemporânea, que ele se fará escritor, um verdadeiro gênio da narrativa, obtendo o prêmio Nobel de Literatura em 1978. Mesmo depois de se mudar para os Estados Unidos, familiarizando-se com um idioma moderno e universal, ele continuou datilografando seus romances e contos na velha máquina de escrever com o teclado em iídiche e publicando-os nos jornais dirigidos a judeus. Só depois eles eram traduzidos para o inglês, com o acompanhamento do autor. Mesmo um idioma morto, quando essencial para um sujeito, pode ser uma linguagem vivente. A literatura assim entendida é bem mais do que literatura, é uma forma de se aproximar de grupos sociais periféricos, dando a eles uma cidadania literária que historicamente lhes foi negada. Ninguém, a não ser num estado de loucura, se manifesta cotidianamente numa linguagem erudita, primando pela raridade dos termos. No dia a dia, a nossa língua assume este tom doméstico, condizente com as pequenas coisas que fazemos. E esta linguagem que, não excluindo classes sociais, cria um domínio literário moderno e democrático. O escritor vai sempre ao samba com esta pele de palavras que se colou ao seu corpo. Usar outras é vestir-se, apagando-se. Miguel Sanches Neto, doutor pela Unicamp, professor da Universidade Estadual de Ponta Grossa, é romancista, poeta, contista e cronista, colunista da Gazeta do Povo. Autor, entre outros, do romance Chove sobre minha infância (Record, 2ª edição, 2012), recebeu o Prêmio Cruz e Souza (2012) e Brasil-Argentina (2005). Miguel Sanches Neto
Enviado por Germino da Terra em 06/06/2012
Alterado em 06/06/2012 Copyright © 2012. Todos os direitos reservados. Você não pode copiar, exibir, distribuir, executar, criar obras derivadas nem fazer uso comercial desta obra sem a devida permissão do autor. Comentários
|
Site do Escritor criado por
Recanto das Letras