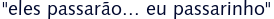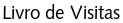A varanda do frangipani (15º capítulo), de Mia Couto
o último sonho
O desalentado gesto de Nãozinha me trouxe decisão. Eu iria abandonar o corpo do inspector. Não podia deixar aquele moço morrer, afundando-se num destino que já me fora revelado.
Preferia sofrer a condenação da cova, mesmo sujeito a promoções de falso herói. Nessa manhã, eu saí do corpo de Izidine Naíta. Restreava assim minha própria matéria no mundo, fantasma visível só pela frente. A luz imensa me invadiu assim que me desencorpei do polícia. Primeiro, tudo cintilou em milibrilhos. A claridade, aos poucos, se educou. Olhei o mundo, tudo em volta se inaugurava. E murmurei, com a voz já encharcada: — É a terra, a minha terra! Mesmo assim, pávida e poeirenta, ela me surgia como o único lugar do mundo. Meu coração, afinal, não tinha sido enterrado. Estava ali, sempre esteve ali, reflorindo no frangipani. Toquei a árvore, colhi a flor, aspirei o perfume. Depois divaguei na varanda, com o oceano a namorar-me o olhar. Lembrei as palavras do pangolim: — Aqui é onde a terra se despe e o tempo se deita. Comecei a escutar as hélices do helicóptero. Me apreendi, abalado. Eles estavam a chegar! Tudo em mim se repentinou. A voz do halakavuma se fez ouvir: — Vá buscar o moço. Enquanto eu corria, as palavras do pangolim prosseguiam em minha cabeça. O halakavuma me anunciava seus planos. Ele iria juntar forças deste e de outros mundos e faria desabar a total tempestade. Granizos e raios tombariam sobre o forte. Durante esses terríveis eventos eu deveria apenas seguir as suas instruções. — Você guia o barco, eu conduzo o furacão. O barco? Que barco? Ou era simples imagem sem nenhum enigma dentro? Mas o pangolim já tinha emudecido. Corri ao quarto de Izidine e o chamei. — Depressa, venha por aqui! Eles já aí estão. O homem, primeiro, me desconfiou, atarantonto. — Quem é você? Não havia modo nem tempo de explicação. Lhe gritei ordem: ele que corresse atrás de mim. O polícia ainda hesitou um momento. Espreitou o céu, confirmando a iminente ameaça. Depois, se decidiu a me seguir, às pressas. Corremos em direcção à praia. O helicóptero nos perseguiu, abutreando lá no alto. Fui conduzindo Izidine para as rochas, onde nos podíamos esconder de feição. Quando nos deitámos entre as penedias da praia eu me contemplei, em espanto. E pensei-me: toda a minha vida tinha sido falsidades. Eu me coroara de cobardias. Quando houve tempo de lutar pelo país eu me recusara. Preguei tábua quando uns estavam construindo a nação. Fui amado por uma sombra quando outros se multiplicavam em corpos. Em vivo me ocultei da vida. Morto me escondi em corpo de vivo. Minha vida, quando autêntica, foi de mentira. A morte me chegou com tanta verdade que nem acreditei. Agora era o último momento em que eu podia mexer no tempo. E fazer nascer um mundo em que um homem, só de viver, fosse respeitado. Afinal, não é o pangolim que diz que todo o ser é tão antigo quanto a vida? Todo aquele pensamento desfilava em minha cabeça quando, súbito, deflagrou a tempestade. Era coisa jamais presenciada: o céu pegou-se em fogo, as nuvens arderam e o mundo se aqueceu como uma fornalha. De repente, o helicóptero se incandesceu. A hélice se desprendeu e o aparelho, desasado, tombou como esses papeizinhos em chamas que não sabem se descem ou se sobem. Assim, envolto em labareda, a máquina se derrocou sobre as telhas da capela. Afundou-se lá onde se guardavam as armas. Foi então que uma explosão se tremendeou pelo forte, parecia o mundo se fogueirava. Nuvens espessas escureceram o céu. Aos poucos, os fumos se dispersaram. Quando já tudo clareava sucedeu que, daquele depósito sem fundo, se soltaram andorinhas, aos milhares, enchendo o firmamento de súbitas cintilações. As aves relampejavam sobre as nossas cabeças e se dispersaram, voando sobre as colinas azuis do mar. Num instante o céu ganhava asas e esvoava para longe do mundo. Depois, vi os velhos que se aproximavam pela praia. Se apoiavam, recíprocos. Atrás vinha Marta. Izidine Naíta me instigou a juntar-me a eles para os ajudar. Eu não podia. Um xipoco, em autenticado corpo, não pode tocar num vivo. Caso senão, ele inflige morte. E todos, velhos, Marta, Izidine e eu, nos juntámos sob a plataforma que ainda restava sobre as rochas, esse mesmo cais que eu carpinteirara enquanto vivo. Aquela cobertura resistia e nos protegia da chuva de fogo. A construção que fora concebida para servir a matança de prisioneiros cumpria agora funções de ajudar meus companheiros viventes. Aos poucos, o céu se foi limpando até ficar tão transparente que se podiam ver outros firmamentos para além do azul. Quando, enfim, tudo se acalmou, reinou um silêncio como se toda a terra tivesse perdido voz. — Viram o helicóptero.?, perguntou Izidine, excitado. — Qual helicóptero? A velha feiticeira soltava as gargalhadas. Aquilo que o polícia tomava por máquina voadora era o wamulambo, a cobra das tempestades. E todos juntaram risadas. Nãozinha ordenou que regressassem ao forte. Ela tomou a dianteira e foi abrindo caminho por entre os lugares que se haviam incendiado. Espantação minha: à medida que caminhávamos, as ruínas se convertiam em imaculadas paredes, os edifícios se reerguiam intactos. Os fogos que eu vira, as rebentações que assistira não passaram, afinal, de imaginária sucedência? Havia, porém, entre tudo o que restava, uma prova dessa desordem, um testemunho que a morte visitara aquele lugar. Era a árvore do frangipani. Dela restava um tosco esqueleto, dedos de carvão abraçando o nada. Tronco, folhas, flores: tudo se vertera em cinzas. Os velhos foram chegando à varanda e cuidaram de não pisar os restos ardidos. Xidimingo se inacreditava: — Está morta? A visão daquela morte me fez lembrar meu próprio fim. Chegara a minha vez de me reassombrar. Acenei, triste, para os velhos. Me despedi da luz, das vozes, do cacimbo. Me comecei a internar na areia, pronto a me desacender. Mas, em meio disso, hesitei: o caminho do regresso não podia ser aquele. Aquele chão já não me aceitava. Eu me tinha tornado num estrangeiro no reino da morte. Agora, para atravessar a derradeira fronteira eu carecia de clandestinidade. Como me transitar, tansfinito? Recordei ensinamentos do pangolim. A árvore era o lugar de milagre. Então, desci do meu corpo, toquei a cinza e ela se converteu em pétala. Remexi a réstia do tronco e a seiva refluiu, como sémen da terra. A cada gesto meu o frangipani renascia. E quando a árvore toda se reconstituiu, natalícia, me cobri com a mesma cinza em que a planta se desintactara. Me habilitava assim a vegetal, arborizado. Esperava a final conversão quando um fiozinho de voz me fez parar: — Espere, eu vou consigo, meu irmão. Era Navaia Caetano, o velho-menino. O tempo já lhe tinha confiscado o corpo. Estava encostado no tronco, perdia as naturais cores da vida. E repetia: — Por favor, meu irmão! Me chamava de irmão. O velho me ratificava de humano, sem culpa de eu, em vida, não ter sido outro. Me estendeu a mão e pediu: — Me toque, por favor. Eu também quero ir... Segurei a sua mão. Mas então reparei que ele trazia, a tiracostas, o arco de brincar. Lhe pedi para que deixasse fora o inutensílio. Lá os metais eram interditos. Mas a voz do pangolim me chegou, corrigente: — Deixe o brinquedo entrar. Este não é um caso de última vez... E Navaia se iluminou de infâncias. Me apertou a mão e, juntos, fomos entrando dentro de nossas próprias sombras. No último esfumar de meu corpo, ainda notei que os outros velhos desciam; connosco, rumando pelas; profundezas da frangipaneira. E ouvi a voz suavíssima de Ernestina, embalando um longínquo menino. Do lado de lá, à tona da luz, ficavam Marta Gimo e Izidine Naíta. Sua imagem se esvanecia, deles restando a dupla cintura de um cristal, breve cintilação de madrugada. Aos poucos, vou perdendo a língua dos homens, tomado pelo sotaque do chão. Na luminosa varanda deixo meu último sonho, a árvore do frangipani. Vou ficando do som das pedras. Me deito mais antigo que a terra. Daqui em diante, vou dormir mais quieto que a morte. Mia Couto
Enviado por Germino da Terra em 31/03/2012
Alterado em 31/03/2012 Copyright © 2012. Todos os direitos reservados. Você não pode copiar, exibir, distribuir, executar, criar obras derivadas nem fazer uso comercial desta obra sem a devida permissão do autor. Comentários
|
Site do Escritor criado por
Recanto das Letras