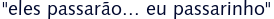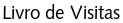A varanda do frangipani (14º capítulo), de Mia Couto
a revelação
Era a última noite. Marta veio chamar o polícia. Seu rosto refrescou uma fresta na porta. Pedia as licenças:
— Hoje sou eu a depor? Não esperou que ele respondesse. Veio à cadeira do inspector e o puxou pela mão: — Venha! Conduziu-o pelo caminho de pedra até ao seu quarto. Antes de abrir a porta, ela se virou bruscamente. Deu-lhe um beijo, ao de leve. Passou-lhe os dedos sobre os lábios como se esculpisse uma despedida no relevo da sua carne. Depois, abriu a porta. Os velhos estavam todos naquele aposento: Navaia Caetano, Domingos Mourão, Nãozinha, Nhonhoso. O policia entrou e ficou andando para a frente dando passos para trás. — O que se passa? Mourão fez um gesto com a mão, sugerindo que ele se calasse. A feiticeira se ergueu. Estava vestida a rigor de cerimónia. Afinal, era isso? O inspector constatava estar em pleno ritual de adivinhação. Nãozinha se dirigiu para ele e fez escorregar qualquer coisa entre as suas mãos. — É a última. Izidine olhou: era mais uma escama de pangolim. A feiticeira ordenou que se sentasse. Balançou-se diante dele, olhos cerrados. Depois de um tempo disse: — O halakavuma é que devia aparecer, descido lá do céu. Nos dias de hoje, porém, o bicho já não sabe falar a língua dos homens. Nãozinha se lamentava: quem nos mandou afastar das tradições? Agora, perdemos os laços com os celestiais mensageiros. Restavam as escamas que o halakavuma deixara escapar da última vez que tombara. Nãozinha as tinha apanhado junto do morro de muchém. Aquelas eram as últimas réstias do pangolim, os derradeiros artifícios dos aléns. Em cada noite, uma dessas escamas tinha trabalhado a alma do inspector. Agora ele era chamado a prostrar-se no chão, bem ali ao dispor de mãos feiticeiras. Nãozinha espalhou nele as cascas do pangolim: sobre os olhos, a boca, ao lado dos ouvidos, nas mãos. Izidine ficou imóvel, escutando as revelações que se seguiram. Os relatos se misturavam, os velhos falavam como se tudo estivesse ensaiado. Nãozinha atropelava sílabas em salivas. E desatava discurso: — Sabe como faz o halakavuma? O bicho se enrola a esconder a barriga, onde ele não tem escamas. Só de noite ele se desenrola, no cuidado do escuro. Você, inspector, devia aprender esses cuidados. Deveria ter tido maneiras para rondar por aí. Mas não. O senhor espantou a verdade. E, agora, o que faz? Agora, parece o javali que foge com o rabo em pé. Se acautele, inspector. Lá, em Maputo, o senhor está a ser perseguido. Não lhe transferiram e secção? Não lhe ameaçaram? Por que não segue acção do pangolim? Por que não se enrosca a proteger as suas descamadas partes? O senhor não sabe mas eles o odeiam. Você estudou em terra dos brancos tem habilidades de enfrentar as manias desta nova vida que nos chegou depois da guerra. Esse mundo que está chegando é o seu mundo, você sabe pisar na lama sem sujar o pé. Eles devem calçar o sapato da mentira, a peúga da traição. A verdade é esta: o senhor deve deixar a polícia. Você é um fruto bom numa árvore podre. Você é o amendoim num saco de ratos. Vão devorá-lo antes que você os incomode. O crime é o capim onde pastam os seus colegas. Não sabe como se faz com o capim: há que cortar sempre não para que acabe mas para que cresça ainda com mais força. Temos pena de si pois é um homem estúpido. Isto é, um homem bom. Tiraram-lhe do charco dos sapos e você se meteu no charco dos crocodilos. As palavras pareciam sair-lhe não da boca mas de todo o corpo. Enquanto falava ela sofria de convulsões, escorriam-lhe babas pelo pescoço. Até que a feiticeira se enclavinhou, em espasmo. Todos se suspenderam, ávidos pela palavra que se seguia: — Cuidada! Vejo sangue! — Sangue!?, se espantou o polícia. — Eles virão aqui. Virão para lhe matar. — Matar-me? Quem me vai matar? — Eles virão amanhã. Você já está perdendo a sombra. Nãozinha acelerava o transe. Era como se o corpo dela se animasse de viva labareda: — Amanhã será. O assassino eu o estou a ver. É o piloto. É esse mesmo que o trouxe de helicóptero. Esse é quem o vai matar. Não é vontade dele. Lhe deram a missão: tirar-lhe do mundo. Izidine, Izidine: você se meteu na casa da abelha. Esta fortaleza é um depósito de morte. E a feiticeira, mais respirável, foi desvendando os sucessivos véus do misterioso assassinato do director. A verdadeira razão do crime era só uma: negócio de armas. Excelêncio escondia armas, sobras da guerra. Eram guardadas na capela. Só o Salufo Tuco tinha acesso a esse armazém. A fortaleza se transformara num paiol. Os velhos, no princípio, não sabiam. Apenas Salufo tinha esse conhecimento. Até que, um dia, o segredo transpirou. E os velhos reuniram, assustados. Aquelas armas eram sementes de nova guerra. Na capela se guardavam brasas de um inferno onde os pés de todos já se haviam queimado. Por isso, decidiram: pela calada da noite abririam o depósito e fariam desaparecer as armas. Fizeram-no combinados com Salufo. Levantaram a ideia de escavar um buraco. Mas Nãozinha se opôs. — A terra não é lugar para enterrar armas. E assim optaram por deitar o armamento no mar. As caixas eram atadas a pedras que lhes davam o peso do eterno fundo. Deitaram algumas lá perto das rochas. Mas as armas eram pesadas, de mais para as suas forças. Além disso, dava nas vistas transportar as caixas, fosse mesmo no escuro da noite. Os velhos desembocavam num impossível: não se podia deitar no mar, não se podia escavar na terra. Onde, então, fazer desaparecer o dito paiol? Aquilo não era coisa para se resolver com pensamento. Só a intercedência de Nãozinha podia valer. E foi o que foi. Certa vez, ela se virou para a velharia e perguntou: — Um buraco que perdeu o fundo o que é? — É o nada, próprio. E a feiticeira adiantou: não chegava deitar fora as armas. Não havia fora que bastasse para aqueles ferros manchados de morte. — Então que podemos fazer, Nãozinha? Me sigam, mufanitas. E a feiticeira os conduziu junto à capela. Abriu as portadas com simples roçar de unha. Os velhos espreitaram o gesto de Nãozinha e ainda hoje eles se estão para crer. Ela retirou a capulana dos ombros e cobriu com ela o chão da capela. De um saco retirou o camaleão e o fez passear sobre o pano. O réptil cambiou de cores, regirou os olhos e desatou a inchar. Inflou, inflou a pontos de bola. De súbito, estourou. Foi então que ribombeou o mundo, extravasando-se todo o escuro que há nas nuvens. Os velhos tossiram, afastando as poeiras com as mãos. A seus olhos se esculpiu a fantástica visão: ali, onde havia chão, era agora um buraco sem fundo, um vão no vazio, um oco dentro do nada. De imediato, puseram braço na obra. E atiraram os armamentos nessa fundura. Despejavam as munições no abismo e ficavam, tempos infindos, a escutar o ruído dos metais entrechocando. Ainda hoje se ouvem as armas, ecoando no nada, escoando para além do mundo. Até que, um dia, o helicóptero voltou. Vinha buscar armamento. Um grupo de homens fardados desceu do helicóptero e foi ao armazém. Os velhos estavam longe, observando. Os estranhos abriram a porta do armazém e, no seguinte, logo uns tantos se desfiladeiraram pelo abismo, abruptando-se no vão do espaço. Os outros, atónitos, recuaram. Quem escavara aquela armadilha? E onde estavam as armas? Começou o enorme milando. Desconfiaram de Vasto. Levaram-no para dentro de casa. Passados nem momentos, se ouviram os tiros. Tinham morto Excelêncio. Trouxeram o corpo dele e atiraram-no para as rochas junto à praia. — Foram eles que assassinaram Vasto Excelêncio. Foram eles, os mesmo que irão matar-lhe, inspector. Amanhã, hão-de vir para lhe matar. Nãozinha terminou as falas, caindo por terra, exausta. Izidine Naíta saiu da cerimónia, foi ao quarto e escreveu durante toda a noite. Redigia como Deus: direito mas sem pauta. Os que lhe lessem iriam ter o serviço de desentortar palavras. Na vida só a morte é exacta. O resto balança nas duas margens da dúvida. Como o pobre Izidine: na mão direita, a caneta; na esquerda, a pistola. O polícia estava todo desalinhavado. Cabeceou sobre a mesa, a testa almofadada pelos papéis. Adormeceu. Despertou em sobressalto com um ruído na porta. Levantou-se num pulo e apontou a arma. Era Nãozinha. Trazia uma lata ferrugenta. A feiticeira se aproximou, em silêncio. Lhe desabotoou a camisa. Mergulhou os dedos numa banha amarelada e começou a besuntá-lo. — Esfrego-lhe com este óleo de baleia. Nãozinha falou enquanto friccionava o peito de Izidine. “A baleia é grande, você ficará maior que qualquer tamanho. Eles lançar-te-ão sobre as ondas. Pensarão que nada irá restar de teu corpo, despedaçado de encontro às rochas. Contudo, a morte já não poderá abraçar-te. Serás escorregadiço como o fogo. As ondas te levarão e só terás destino num lugar onde não chega nenhum barco. Lá onde o mar é que desagua nos rios. Onde a palmeira é que se planta nas ondas, ganhando raiz em fundos corais. Te converterás num ser das águas e serás maior que qualquer viagem. Te digo eu, Nãozinha, a mulher-água. Tu serás aquele que sonha e não pergunta se é verdade. Serás aquele que ama e não quer saber se é certo.” Izidine Naíta não viu mas eu, o xipoco dentro dele, tomei atenção na feiticeira mesmo depois de ela bater a porta. A velha saiu, parecendo em culpa. Seguiu caminho cabisbaixinha, até que parou. Olhou a lata com que benzera o polícia, rodou-a entre as mãos. Encolheu os ombros e depois deitou fora a lata. Mia Couto
Enviado por Germino da Terra em 31/03/2012
Copyright © 2012. Todos os direitos reservados. Você não pode copiar, exibir, distribuir, executar, criar obras derivadas nem fazer uso comercial desta obra sem a devida permissão do autor. Comentários
|
Site do Escritor criado por
Recanto das Letras