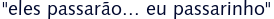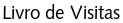a varanda do frangipani (11º capítulo), de Mia Coutoa carta de Ernestina
Sou Ernestina, mulher de Vasto Excelêncio. Rectifico: viúva de Vasto. Redijo estas linhas na véspera de me levarem para a cidade, enquanto andam por aí entretidos a vasculhar pela fortaleza. Nunca encontrarão o corpo de meu marido. No fim das buscas, levar-me-ão com eles. Irei em condição desqualificada, tida como alma incapaz. Não me pedirão testemunho. Nem sequer sentimento. Prefiro esse alheamento. Que ninguém me preste tenção e me tomem por tonta. Escrevo esta carta, nem eu sei para quê, nem para quem. Mas quero escrever, quero vencer esta muralha que me cerca. Durante anos vivi rodeada de velhos, gente que só espera pelo breve e certeiro final. A morte não é o fim sem finalidade?
Vasto morreu em mistério. Nem sequer teve enterro. Melhor assim: pouparam-me a hipocrisia do funeral. Não é a primeira vez que cruzo caminhos com a morte. O meu único filho morreu à nascença. Nunca mais pude ter filhos. Quando aconteceu o desfortúnio eu estava separada de Vasto. Pensava que seria definitiva essa separação. Vasto tinha sido destacado para dirigir o asilo de São Nicolau. Eu recusei acompanhá-lo. A nossa relação tinha-se gasto, eu me esgotara em sucessivas desilusões. Mas a morte de meu filho me deixou frágil, desamparada. Foi então que decidi reconciliar-me com Vasto e vir ter com ele. Dizem que as mulheres que veem seus filhos morrer ficam cegas. Hoje eu entendo: não é que elas deixam de ver as coisas. Deixam, sim, de ver o tempo. Tornado invisível, o passado deixa de doer. O que eu sofri mais na guerra foi aquilo que não presenciei. Os horrores que aconteceram! Me diziam que Vasto, nos campos de batalha, se comportava sem moral, agindo da mesma forma que os inimigos a quem ele chamava de demónios. Eu escutava rumores dos massacres como se ocorressem num outro mundo. Como se tudo aquilo fosse coisa sonhada. E os sonhos são como as nuvens: nada nos pertence senão a sua sombra. Meus pertences eram sombras velozes sobre a terra. Escutava o que se murmurava sobre o meu marido. E chorava. Chorava sempre que comia. Grãos e gotas se misturavam nos lábios, não sabia que tristezas se me enrolavam na garganta. Minha vida me sabe a sal. Por isso me dá pressa de sair destas praias. Para esquecer, para sempre, esse sabor de maresia. Quando cheguei ao asilo confirmei as imoralidades de meu marido. Excelêncio negociava com os produtos destinados a abastecer o asilo. Os velhos não tinham acesso aos alimentos básicos e definhavam sem remédio, às vezes me parecia que morriam espetados em seus próprios ossos. Mas Vasto era insensível àquele sofrimento. — Como é possível você não fazer nada, você que tanto fala em nome do povo... — Os velhos estão habituados a não comer, me respondia. Comer, agora, até lhes havia de fazer mal... Como era possível Vasto ter chegado a tão pouco? No princípio, eu ainda amei esse homem. Seu corpo era a minha nação. Lhe dei nomes só meus, nomes que eu inventava por força de tanto lhe querer. Mas esses nomes nunca eu lhos revelei. Ficavam comigo, segredos que escondia de mim mesmo. Eu não confiava que ele soubesse cuidar desses enfeites que a minha ternura fabricava. Me veio a primeira vontade de me distanciar de Vasto. No início, era mentira. Eu era como o rio que, apenas em ilusão, se vai afastando da fonte. Com o tempo, porém, se confirmava a autêntica natureza de Vasto. Como diz o velho Navaia: nós nada descobrimos. As coisas, sim, se revelam. O tempo me foi trazendo a verdadeira face desse homem. Deus me perdoe, eu deixei de o amar. Mais que isso: passei a ter-lhe ódio. Naquele momento, eu ainda queria explicação para a minha raiva. Hoje já não preciso nenhuma razão para odiar. E encontrei modo de justificar: Vasto tinha servido na guerra. Participara em missões que eu preferia desconhecer. Viu muita gente morrer. Quem sabe foi ali, naquelas visões, que se extinguiu a sua última réstia de bondade? Estranha sucedência: a maior parte da gente era deslocada pelo conflito armado. Com Vasto sucedia o contrário: a guerra é que se tinha deslocado para dentro dele, refugiada em seu coração. E agora como tirar a malvada dos seus interiores? Foi na guerra que Vasto Excelêncio conheceu Salufo Tuco, aquele que mais tarde se tornaria nosso criado. Salufo já tinha servido como soldado nos tempos coloniais. Era um homem estranho, feito de boas humanidades. Ninguém lhe dava a idade que realmente tinha. Não aparentava mais que cinquenta anos. Deveria, contudo, ter ultrapassado os setenta. Mas guardava muito da adolescência. Se vestia com retalhos de tecidos, remendos mal costurados. Se apresentava assim para renovar memórias de sua inicial juventude. Recordava os primeiros pagamentos que recebeu como ajudante de alfaiate. O patrão era um indiano e lhe pagava o salário não em dinheiro mas em sobras de panos. Vestindo-se de remendos, Salufo se transferia para os perdidos paraísos da infância? Não sei. Uma vez lhe perguntei, ele negou. Retorquiu assim: a cobra pode reinstalar-se na pele que largou? Não sei o que se passara no campo de batalha mas Salufo tinha estranhos deveres de fidelidade para com Vasto. Ele se transformou no seu braço direito. Salufo era quem descarregava a carga que os helicópteros traziam. Os velhos sempre queriam ajudar, movidos pela curiosidade de saber o que vinha nas caixas. Mas Vasto Excelêncio sempre os proibiu. Só Salufo podia manipular esses carregamentos. Ele os transportava às costas, sozinho, para o armazém que está fechado a sete chaves. Esse armazém é realmente a antiga capela da fortaleza. Se o lugar já foi sagrado agora ainda o é mais. Mil restrições rodeiam a antiga capela, convertida em depósito de mercadorias. Ninguém pode ali entrar, só Vasto Excelêncio. E Salufo Tuco, quando autorizado. Para mim era fácil entender: meu marido não queria que se conhecessem as reais quantidades de comida, mantas e sabão. Vasto não queria olhos mexericando em coisa que as mãos nunca iriam tocar. Salufo executava os trabalhos domésticos em nossa casa. Eu gostava do seu convívio. Em seu corpo de gigante se escondia uma alma gentil. Salufo confidenciava muito comigo. Em suas palavras havia uma permanente queixa: se lamentava da condição dos asilados. E dizia que, nas aldeias do campo, os idosos tinham uma condição bem mais feliz. A família os protegia, eles eram ouvidos e respeitados. Os anciãos tinham a última palavra sobre os assuntos mais sérios. Salufo lembrava antiguidades e seu rosto se meninava. Depois, no desfecho, se fechava em melancolia. Um dia, Salufo Tuco me confessou que tinha decidido fugir. Fiquei triste: eu perdia não apenas um empregado mas um amigo. Mas ele estava decidido. E me pediu que não dissesse nada a Vasto. Apesar de triste, eu prometi cumplicidade. — Mas como é que vai passar por esses caminhos minados? — Sou um militar, conheço os segredos da guerra. Sei como se põem e se tiram minas. Seu plano era levar com ele todos os velhos que estivessem cansados do asilo. Em segredo, ele já os vinha contactando. Quase todos aceitaram participar na fuga. Apenas uma meia dúzia recusou. Tinham medo de arriscar? Ou já tinham sido ensinados pela morte, resignados àquele pequenito destino? À medida que se aproximava a planeada fuga eu me tomava de uma crescente angústia. Um devaneio de Salufo podia arrastar para a morte muitos daqueles velhos. Chamei-o e pedi-lhe: — Salufo, não vá assim, sem preparação. — O que devo fazer, senhora? — Eu estive a pensar. Consulte Nãozinha, ela pode abençoar sua viagem. — A senhora, assim mulata, tão portuguesa de alma, a senhora acredita nessas coisas? — Acredito, Salufo. Talvez só o tenha feito para me agradar mas Salufo aceitou. Nessa mesma tarde foi consultar a velha feiticeira. Não sei o que entre eles acertaram. Só sei que, essa noite, Nãozinha surgiu em minha casa. Para minha surpresa, ela me segurou ambas as mãos e me pediu: — Você, Ernestina, não deixe ele partir. É que eu... eu não sou feiticeira de verdade. — Não é? — Nunca fui. Não tenho nenhuns poderes, Ernestina O seu corpo parecia pedir um consolo. Mas a sua voz não deixava transparecer nenhuma fragilidade. De qualquer modo, a reconfortei: — Você tem poderes, eu sei. — Como é que sabe? — Isso é coisa que uma outra mulher sabe ver. Nãozinha sacudiu a cabeça, não sei se negando as minhas palavras, se renegando seu passado de falsidades. Enquanto o grupo de fugitivos ultimava seus preparativos, eu vi que Nãozinha rezava, implorando baixinho: — Não vá, Salufo, eu lhe peço pela fé de Cristo! Mas Salufo haveria de partir com todos os outros. Tinha esperado pela noite. Em respeito a um pedido da feiticeira. Esta lhe havia dito: um viajante nunca deve partir no crepúsculo. Salufo encabeçava o grupo de velhos e acenou com um bastão antes de ser engolido pelo escuro. Se despediram do asilo soltando um “Ouooh” estranho. Depois, eu soube. Imitavam piares de mocho. Todo aquele barulho era para agoirar Vasto Excelêncio. Fiquei toda a noite acordada, ansiosa. Temia a todo o momento ouvir explosões. Se um velho pisasse uma mina o estrondo ecoaria pela savana. Seria impossível que isso passasse desapercebido. Estava tão atenta naquela escuta que nem dei conta que Vasto não estava em casa. Surpreendi o seu regresso, pé-ante-pé, era já quase madrugada. Assustou-se quando me viu sentada na varanda. — Tina!? O que estás tu a fazer? — Nada. Não me vinha o sono, lá dentro. — Eu... eu fui ver... — Deixa, Vasto, não fales. Não perguntei nada. A noite passou, afinal, sem incidente. Os velhos tinham passado a zona das minas. Me isolei neste quarto, desocupada de tudo e de todos. Marta ainda me veio ver umas poucas vezes. Mas eu não tinha palavras. Ela me segurava os braços, em silêncio. E ficávamos olhos nos olhos como quem contempla o sem fundo de um oceano. Passaram-se dois meses, porém, Salufo Tuco voltou. Vinha triste, esfarrapado. Chegou e se instalou sem falar com ninguém. Entrou na arrecadação que lhe servia de quarto e recomeçou as suas tarefas diárias como se não se tivesse passado nada. Perguntei-lhe o que acontecera. Ele não respondeu. Demorou-se em inventados afazeres. Só no fim do dia se sentou e falou. Estava profundamente magoado. O mundo, lá fora, tinha mudado. Já ninguém respeitava os velhos. Dentro e fora dos asilos era a mesma coisa. Nos outros lares de velhos a situação ainda era pior que em São Nicolau. De fora vinham familiares e soldados roubar comida. Os velhos que, antes, ansiavam por companhia já não queriam receber visitantes. — Sofremos a guerra, haveremos de sofrer a Paz. Salufo explicava-se assim: em todo o mundo, os familiares trazem lembranças para reconfortar os que estão nos asilos. Na nossa terra era ao contrário. Os parentes visitavam os velhos para lhes roubarem produtos. à ganância das famílias se juntavam soldados e novos dirigentes. Todos vinham tirar-lhes comida, sabão, roupa. Havia organizações internacionais que davam dinheiro para apoio à assistência social. Mas esse dinheiro nunca chegava aos velhos. Todos se haviam convertido em cabritos. E como diz o ditado, cabrito come onde está marrado. Quando Salufo contou isto aos amigos do asilo eles não queriam acreditar. Diziam que era invenção dele para eles desistirem de sair. Salufo lhes respondia: vocês são a casca da laranja onde já não há nem sobra de fruta. Os donos da nossa terra já espremeram tudo. Agora, estão espremendo a casca para ver ser ainda sai sumo. Depois, Salufo Tuco deixou de abordar o assunto. Se recusava lembrar o que passara naqueles dois meses, fora de São Nicolau. E eu entendia. Salufo tinha-se aguentado em casa de sobrinhos na base de uma mentira. O velho declarara ter bens e riquezas. Só para os mais novos tratarem dele: Salufo trocou mentira por um canto num lar. Saturado daquele mundo, decidiu voltar para São Nicolau. — Prefiro ser pisado por Excelêncio. E acrescentou, em meio riso: Para depois ser consolado pela senhora... E agora, Salufo, o que vai fazer? Era essa pergunta que eu deveria fazer. Mas preferi calar-me. Para quê martirizá-lo? Salufo pareceu adivinhar a minha dúvida. Levantou-se e disse: — Eu fui soldado. Sabe o que vou fazer? Me expôs o seu incrível plano: ele iria voltar a minar as terras em redor da fortaleza. Enterraria as mesmas minas que, lá na estrada, estavam a ser retiradas. — Eles estão a desminar. Eu vou começar a minar. Eu não cabia em mim. Tudo me parecia tão para além do real que eu nem sabia fazer perguntas. Como iria o velho se abastecer de explosivos? — Eu trouxe comigo, roubei. Ninguém me viu. Eles desplantam lá, eu planto mais travez deste lado. — Mas, você, Salufo... — Agora é que isto vai ser uma fortaleza de verdade! — Estás maluco, Salufo? — Não, senhora. Eles é que estão doidos. — Mas para quê? Minar porquê, Salufo? — Eu vi esse mundo. Não quero que ninguém venha aqui nos chatear. — Mas aqui... quem é que vem? — Hão-de chegar aqui, Dona Tina. Eles hão-de vir aqui quando o capim deles acabar, lá nas cidades. Eu sabia bem o que Salufo estava dizendo. Eu tinha estado na cidade e observara a ganância dos enriquecidos. Agora, tudo estava permitido, todos os oportunismos, todas as deslealdades. Tudo era convertido em capim, matéria de ser comida, ruminada e digerida em crescentes panças. E tudo isso mesmo ao lado de aflitivas misérias. Salufo Tuco queria fechar caminhos ao futuro. E não ficava pela intenção. Se ocupou, com alma, a essa estranha missão. Dizia a Vasto Excelêncio que saía pelas proximidades para apanhar umas verdurazinhas, umas nkakanas para Nãozinha. Vasto parecia acreditar. Ou fingia, porque aquele era um jogo mortal. Um dia, o velho iria pelos ares, aos despedaços. Salufo sacudia a grande mão no ar quando o meu marido o fingia advertir: — Estou imune às minas, patrão. Não esqueça eu já fui um naparama. Todas as madrugadas, ainda o sol não espreitara, ele saía com um saco e uma enxada. Vou plantar, a terra se zanga se não plantamos nada. Os campos se amargam quando os homens os abandonam. Vasto Excelêncio, mãos nos bolsos, parecia divertir-se vendo o criado se afastar. Salufo ainda se virava para trás e insistia: — É verdade, meu patrão: esta miséria é vingança da terra. Uma manhã, fui desperta pela voz de Vasto. Era ainda lusco-fusco. Meu falecido marido ralhava com Salufo, lá na arrecadação. Levantei-me para espreitar. Interrompi a zanga. — O que se passa, Vasto? — Este filho da puta abriu o armazém. E ordenou que me retirasse. Aquilo não iriam ser cenas para mulheres. E realmente não. Ignorando minha presença, Vasto agarrou os remendos do velho e lhe exigiu explicação sobre o que ele tinha roubado. Salufo nem teve tempo para responder. Já a mão fechada de Vasto embatia com toda a força em sua boca. Salufo caiu. Sobre ele choveram pontapés. O corpo de Salufo saltava sob mando das pancadas. Vasto estava fora de si. Eu gritei, implorei para que deixasse o homem em paz. Por fim, deu pausa ao espancamento e, afogueado, gaguejou: — Eu vou lá ver o que tiraste. Ai de ti, meu filho da puta! Salufo Tuco não morreu logo. Quando Excelêncio o deixou estatelado ele ainda respirava. Seu corpo, no entanto, já estava paralisado. Pediu-me que chamasse os outros velhos. Saí correndo. Quando se juntaram em volta de Salufo, os velhos se espantaram com o seu pedido: — Me amarrem no catavento! Hesitaram, perplexos. Mas, depois, obedeceram. Salufo sempre falava do moinho de vento. Seus olhos visitavam as pás rodando e se inebriavam daquele movimento. E dizia: aquele ventinho lá é todo feito à mão. Haveria razões que me fugiam mas os velhos acederam ao seu pedido e o levaram lá para cima. Nem eu sei como conseguiram subir a escada do moinho de vento carregando aquele peso vivo. Amarraram-no às pás do catavento. Braços e pernas escancarados. Como ele queria: rente ao céu, à espera das ventanias. Há dias que nem brisa visitava os nossos céus. Fosse magia, fosse coincidência mas, naquele exacto momento, sopraram os ventos e as hélices do moinho começaram a rodar. O velho rodava com elas, feito ponteiro de relógio. Cá em baixo nos angustiávamos vendo Salufo Tuco naquele carrossel. Ele, no entanto, parecia divertir-se. Gargalhava mesmo quando ficava de cabeça para baixo. Passou-se um tempo e, depois, ele se calou de olhos muito abertos. Me pareceu que tivesse desmaiado. De súbito, o vento parou. Salufo estava imóvel como uma bandeira, o céu que ele tanto desejava parecia ter-lhe entrado pelos olhos. Foi então que surgiu Vasto Excelêncio. Vinha do armazém, pior que uma fera. Soprava babas e espumas. Seus olhos chisparam quando olhou Salufo suspenso no catavento. Não entendíamos como aquele ser, amarrado lá no alto, o pudesse irritar tanto assim. Aos berros ordenou que o desamarrassem e o trouxessem para baixo. Assim fizeram. Quando depositaram seu corpo no chão já Salufo estava sem vida. Excelêncio, frustrado, ainda agrediu aquele corpo. Depois, praguejando, se afastou. Ainda hesitei em o acompanhar. Mas eu devia mais fidelidade a Salufo. E me juntei aos outros velhos que faziam roda junto do falecido. A medo me debrucei sobre ele. Então notei o modo estranho como o defunto nos contemplava. Parecia que tinha morrido todo seu corpo, menos o olhar. Assim mesmo: os olhos restavam vivos. Os velhos espreitavam, incrédulos. Nhonhoso era o único que não se admirava: — Então não há os vivos que têm os olhos mortos? Falava dos cegos. Seria natural, segundo ele, haver mortos com os olhos vivos. Desviei a palavra daquela conversa. Havia ali maiores urgências. — Que fazemos com ele? Os velhos hesitavam no destino a dar àquele morto. Porque de Salufo se desprendia a suspeita de uma brasa sob a cinza. Quem sabia a certeza sobre o estado definitivo dele? E ficaram acenando-lhe, falando com ele, desfiando piadas. Até que, finalmente, o levaram para o enterrarem longe dali. Eu fiquei, imóvel, como que chamada pela própria terra. Por uns tempos, ainda escutei as gargalhadas de Salufo, como um eco vindo do tempo. Disseram-me depois que no lugar onde o sepultaram se escutam zumbidos de moscas vindos das profundezas da terra. Sim, esses moscardos deviam ter descido à campa junto com Salufo. E quem passasse por ali ouvia os insectos zunzunando nos subterrâneos. Outros dizem ser Salufo Tuco ressonando em seu definitivo leito. Pronto. Já escuto as vozes dos que me vêm buscar. Vou fechar este escrito, fechando-me eu nele. Esta é a minha última carta. Antes, já tinha deitado minha voz no silêncio. Agora, calo as mãos. Palavras valem a pena se nos esperam encantamentos. Nem que seja para nos doer como foi meu amor por Vasto. Mas eu, agora, estou incapaz de sentimento. Me impenetrei em mim, ando em aprendizagem de fortaleza. No final de tanta linha já sei a quem deixar esta carta. A Marta Gimo. Foi ela a última pessoa a me escutar. Seja em seus olhos que me despeço da última palavra. Agora, vou sonhar-me, Tina. Mia Couto
Enviado por Germino da Terra em 31/03/2012
Copyright © 2012. Todos os direitos reservados. Você não pode copiar, exibir, distribuir, executar, criar obras derivadas nem fazer uso comercial desta obra sem a devida permissão do autor. Comentários
|
Site do Escritor criado por
Recanto das Letras