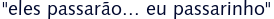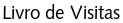a varanda do frangipani (9º capítulo), de Mia Couto
a confissão de Nãozinha
Sou Nãozinha, a feiticeira. Minhas lembranças são custosas de chamar. Não me peça para desenterrar passados. A serpente engole a própria saliva? Tenho que falar, por sua obrigação?
Está certo. Mas fica a saber, senhor. Ninguém obedece senão em fingimento. Não destine ordem em minha alma. Senão quem vai falar é só o meu corpo. Primeiro, lhe digo: não devíamos falar assim de noite. Quando se contam coisas no escuro é que nascem mochos. Quando terminar a minha história todos os mochos do mundo estarão suspensos sobre essa árvore onde o senhor se encosta. Não tem medo? Eu sei, você mesmo, sendo preto, é lá da cidade. Não sabe nem respeita. Vamos então escavar nesse cemitério. Digo certo: cemitério. Todos os que eu amei estão mortos. Minha memória é uma campa onde eu me vou enterrando a mim mesmo. As minhas lembranças são seres morridos, sepultados não em terra mas em água. Remexo nessa água e tudo se avermelha. Lhe inspiro medo? Por essa mesma razão, o medo, eu fui expulsa de casa. Me acusaram de feitiçaria. Na tradição, lá nas nossas aldeias, uma velha sempre arrisca a ser olhada como feiticeira. Fui também acusada, injustamente. Me culparam de mortes que sucediam em nossa família. Fui expulsa. Sofri. Nós, mulheres, estamos sempre sob a sombra da lâmina: impedidas de viver enquanto novas; acusadas de não morrer quando já velhas. Mas hoje me aproveito dessa acusação. Me dá jeito pensarem que sou feiticeira. Assim me receiam, não me batem, não me empurram. Está ver? Meus poderes nascem da mentira. Tudo isto tem sua razão: a minha vida foi um caminho às avessas, um mar que desaguou no rio. Sim, eu fui mulher de meu pai. Me entenda bem. Não fui eu que dormi com ele. Ele é que dormiu-me. Tenho que demorar essa lembrança. Desculpa, senhor inspector, mas eu devo relembrar meu pai. Porquê? Porque eu mesma matei o mulato Excelêncio. Se admira? Pois lhe digo, agora: esse satanhoco tinha o espírito do meu pai. Tive que lhe matar porque ele era um simples braço executando as vontades do meu falecido velho. É por isso: para falar desse Vasto Excelêncio, salvo seja, devo falar primeiro de meu pai. Posso retrasar-me nele, em tempos do antigamente? Lhe peço licença porque o senhor começou com mandanças, mesmo antes de eu abrir boca. Não quero perder-lhe o tempo mas o senhor não vai entender nada se eu não descer fundo nas minhas lembranças. É que as coisas começam mesmo antes de nascerem. Meu pai sofria uma demoniação. Sempre que se aprontava a fazer amor ele ficava cego. Tocava em corpo de mulher e perdia as vistas. Cansado, meu pai consultou o feiticeiro. Não era só essas cegueiras momentâneas que o preocupavam. Ele estava sentir-se estreitado, em meio de tanto mundo. Foi assim que se decidiu a deitar sua vida na esteira do nhamussoro O que o outro lhe disse foram garantias de riqueza. E lhe avançou promessas: meu velho queria ficar no sossego da abundância? Então, devia levar sua filha mais velha, eu própria, e começar namoros com ela. Assim mesmo: transitar de pai para marido, de parente para amante. — Namorar?, perguntou meu pai. — Sim, namorar nela mesmo, respondeu o nhamussoro. — Mas se ela não me aceitar? — Aceita, depois de beber os remédios que eu lhe vou dar. — Não são perigosos? — Esses remédios afastam a boca do coração. Sua filha vai aceitar. — E no caso de não? — No caso de não... é melhor não pensarmos porque, nesse caso, você terá de morrer. Meu velho engoliu boas securas. Morrer? Ataratonto, ainda se duvidou. Mas o que ele podia fazer? Ficou assim, aceitável. Voltou para casa e fui mesmo eu, sua filha destinada, que lhe abriu a porta. Naquele momento, à contraluz do xipefo, sabe que ele viu? Viu-me, a mim, toda. Parecia eu estava despida. — Nãozinha: estás sem a roupa? Só eu pude rir. Sem roupa? E puxei a capulana para ele ver as roupas. Mas naquele atrapalhamento, a capulana soltou-se e ficaram às vistas meus seios, minha pele que, nesse tempo, era de chamar dedos. Nesse instante, sucedeu que ele deixou de me enxergar. Meu pai perdia as visões. Queria dizer: eu, sua filha varâ, já lhe era desejável, igual uma qualquer mulher. Estudou o caminho com as mãos, como um cego. Queria se amparar na porta mas, em vez, me tocou os ombros. E sentiu meu arrepio. — Pai, se sente bem? — Me ajude a entrar, é só excesso de escuro. No dia seguinte, ele me deu as bebidas que o curandeiro preparara. Nem perguntei o que era aquilo. Meus olhos estavam cheios de dúvida, simplesmente eu baixei todo o rosto. Não ingeri logo a bebida. Fiquei parada como se adivinhasse o que iria suceder. — Posso beber amanhã? — Pode, filha. Bebe quando você sentir desejo. Começou então o namoro. Meu pai foi, afinal, meu primeiro homem. Mas, devo confessar uma coisa: nunca bebi a poção. A cabaça do feiticeiro ficou durante anos esperando por meus lábios. Sempre meu velho acreditou que eu estivesse sob cuidado dos espíritos e que agisse ao mando dos remédios. Contudo, meu único remédio fui eu mesma. E assim me sucedi, esposa e filha, até que meu velho morreu. Se pendurou como um morcego, em desmaio de ramo desfrutalecido. Veio o poente. Veio a assombrável sombra: a noite. Passaram as horas e ele balançando no escuro, o escuro balançando dentro de mim. Não me deixaram vê-lo. Nesse tempo, era interdito às crianças verem os falecidos. Você sabe, a morte é como uma nudez: depois de se ver quer-se tocar. De meu pai não ficou nenhuma imagem, nenhuma sobra de sua presença. Seguindo os antigos mandos, todos os pertences, incluindo fotografias, eram enterrados com o defunto. Assim, fiquei eu, órfã e viúva. Agora sou velha, magra e escura como a noite em que o mocho ficou cego. Escuro que não vem da raça mas da tristeza. Mas tudo isso que importa, cada qual tem tristezas que são maiores que a humanidade. Mas eu tenho um segredo, meu e único. Os velhos aqui sabem, mais ninguém. Lhe conto agora mas não é para escrever em nenhum lado. Escute bem: em cada noite eu me converto em água, me trespasso em líquido. Meu leito é, por essa razão, uma banheira. Até os outros velhos me vieram testemunhar: me deito e começo transpirando às farturas, a carne se traduzindo em suores. Escorro, liquidesfeita. Aquilo dói tanto de ser visto que os outros se retiraram, medrosos. Não houve nunca quem assistisse até ao final quando eu me desvanecia, transparente, na banheira. O senhor não me acredita? Me venha assistir, então. Esta noite mesmo, depois desta conversa. Tem medo? Não receie. Porque logo que amanhece, de novo se refaz minha substância. Primeiro, se conformam os olhos, como peixes mergulhados em improvisado aquário. Depois, se compõem a boca, o rosto, o mais restante. Por último são as mãos, teimosas em atravessar aquela fronteira. Elas se demoram cada vez mais. Um dia, as mãos me ficam água. Que bom seria eu não voltar! Para dizer a verdade, eu só me sinto feliz quando me vou aguando. Nesse estado em que me durmo estou dispensada de sonhar: a água não tem passado. Para o rio tudo é hoje, onda de passar sem nunca ter passado. Há aquela adivinha que reza assim: “em quem podes bater sem nunca magoar?”. O senhor sabe a resposta? Eu lhe respondo: na água se pode bater sem causar ferida. Em mim, a vida pode golpear quando sou água. Pudesse eu para sempre residir em líquida matéria de espraiar, rio em estuário, mar em infinito. Nem ruga, nem mágoa, toda curadinha do tempo. Como eu queria dormir e não voltar! Mas deixemos meus devaneios. Não foi para isto que me deu ordem de falar. O senhor quer saber só de ocorrências, não é? Pois, a elas regresso. Naquela noite, eu me dirigia para a minha banheira quando encontrei Nhonhoso e Xidimingo dormindo na varanda. Estavam embrulhados um no outro, se aqueciam. Mas aquele cacimbo não era bom para idades. Acordei-os com suavidades. Nhonhoso foi o primeiro a despertar. Quando ele descobriu o velho Mourão anichado em seu colo, desatou-se a gritar. Com brusquidão empurrou Xidimingo para o chão. O branco se estremunhou: — O que e isso, Nhonhoso, está maluco? — Eu pensei você já tinha-se apagado. — E então, me empurra assim? Eu entendia o medo de Nhonhoso. Aquele cocuana não esbanjava coração. Não se pode deixar um alguém apagar-se no nosso colo, esfriar em nosso corpo. Os mortos se agarram à alma e nos arrastam com eles para as profundezas. Aqui, neste asilo, se morre tanto que eu, às vezes, me pergunto: os mortos servem para quê? Sim, tanta gente aí a estrumar a terra. O senhor inspector sabe a razão da amontoação dos falecidos? Eu, da minha parte, já cheguei a um pensamento: os mortos servem para apodrecer a pele deste mundo, deste mundo que é como um fruto com polpa e caroço. é preciso que caia a casca para que a parte de dentro possa sair. Nós, os vivos e os mortos, estamos a desenterrar esse caroço onde residem espantáveis maravilhações. Desculpe, inspector, me desviei por bula-bulas. Volto ao nosso assunto, àquela noite em que encontrei os dois velhos. Me lembro perguntar-lhes: — Então vocês dois vão ficar aqui? Dormir fora? — Olha, Nãozinha, nos deixa aqui mesmo, hoje não nos apetece ficar lá junto da velharia... — Eu é que tenho mesmo que dormir na minha banheira. Senão até ficava aqui também... Os dois se riram, aliviados de me verem longe. Como todos os outros, eles também acreditavam que eu fosse uma feiticeira. Imaginavam que fora eu quem encomendara a morte de meu marido, meus filhos. Pensavam que matara meu pai para ficar com o marido, que eu matara o marido para ficar com os filhos, matara os filhos para ficar com os netos. Que pensassem. Naquela noite, me demorei na companhia desses dois velhos. Ainda vi Marta chegar e estender-se, nua, em pleno chão. Nhonhoso e Mourão trocaram cumplicidades de miúdos. Foi quando chegou o director mulato. Chamou-nos aos três, ordenou que o acompanhássemos ao seu gabinete. Era ali que ele procedia a maldades. Sentámos os três num banco comprido e Nhonhoso apanhou logo um encontrão. — O que é eu te mandei fazer, madala? O velho preto se calou, cabisbaixito. Parecia envergonhado, carregado de culpas. Vasto Excelêncio segurou-lhe o rosto para lhe faiscar os olhos: — Eu não disse para deitares a árvore abaixo? — Afinal, era isso?, se admirou o português. Você me cortava a árvore a mando deste filho da puta?! — Cala-te, tu também! O director foi sumário: Nhonhoso logo ali foi declarado culpado de insubordinação. Todos sabíamos a punição que se iria seguir. Chamariam Salufo Tuco para se encarregar dos castigos corporais. Eu ainda tentei sossegar a raiva do director. — Excelêncio, você não vai arrear nestes pobres... E logo ele se descarregou em mim. Aos gritos me bateu no peito. Uma e mais e muitas vezes. Escolhia os seios: bateu neles até eu sentir como que fosse um rasgão me rompendo ao meio. Mourão e Nhonhoso ainda tentaram interceder mas os pobres velhos, mesmo juntos, não somavam uma única força. Eu fiquei estendida, fingindo não ter sido senão um homem batendo em mulher velha. Então, Excelêncio se virou para Nhonhoso e gritou: — Mandei-lhe cortar a árvore do tuga e você desobedeceu. Agora já sabe... — Eu sei. Mas estou a pedir uma coisa: não chame ninguém para me bater. Depois, virando-se para o velho português, Nhonhoso implorou: — Por favor, você me bata. — Bater-te!? Estás doido? — Eu não quero que seja um preto a me bater. — Não me peça isso, Nhonhoso. Eu não posso, não sou capaz. Nesse momento, o director interrompeu. Perguntou ao branco, com o maior sarcasmo: — Não diga que você nunca arreou num preto. Heim, patrão? Sublinhava bem a palavra “patrão”. Nhonhoso, para nossa surpresa, juntou voz a Excelêncio: — Sim, me satisfaça esse pedido, patrão. — Não entendo, Nhonhoso: agora eu sou “patrão”? Quem respondeu foi o director do asilo. Parecia se divertir com aquela conversa. Sentou-se na cadeira, com ar de mandos. Depois bazofiou, apontando dedo de juiz: — Sim, vocês brancos nunca deixaram de ser patrões. Nós, negros... — Qual nós negros? Você se cale, seu oportunista de merda. Era o velho português, exaltado. Vasto Excelêncio sorriu-se no canto da boca: — Calar-me? Se o patrão assim manda. — Eu não sou patrão de ninguém! — É, é meu patrão!, insistiu Nhonhoso. — Não sou patrão, caraças! Não me venham com essas merdas, eu sou Domingos Mourão, porra! O português, enfervescido, dava voltas enquanto repetia: “Sou Domingos. Sou o Xidimingo, caraças!” O velho Nhonhoso, de repente, se interpôs no caminho do branco. Baixou a cabeça e suplicou, em surdina: — Lhe peço, Mourão. Me bata. — Não posso. — Não me vai magoar, lhe juro. — Vai-me magoar a mim, Nhonhoso. — Lhe peço, Xidimingo. Faça isso, meu irmão. O branco fechou os olhos, à beira da lágrima, ele se semelhava. Devagar, empunhou o chamboco. Sempre de pálpebra descida, ele levantou o braço. Mas não chegou a cumprir sentença. Porque sucedeu que, de repente, lá fora, deflagrou uma tempestade de rasgar céus. Relâmpagos e trovões se confundiam. Nunca eu havia presenciado tais zangas dos firmamentos. Do meu saco tirei folhas de kwangula tilo. Dei um ramo a cada um dos velhos para que segurassem em suas mãos. Assim se preveniam contra o rebentar dos pulmões. Dei a todos menos ao director. Depois, ordenei: — Calem-se: está passar no céu o wamulambo! — O wamulambo?!, perguntou o director, com voz tremente. — Cala-se, satanhoco! O director saiu, com pressas intestinais. Xidimingo Mourão se espantava. Ele não conhecia todas nossas crenças. Não conhecia o wamulambo, essa uma cobra gigantíssima que vagueia pelos céus durante as tempestades. Ficámos um tempo, peito agachado, até o ciclone se cansar. Depois, saímos de casa a espreitar o céu. Já não desabavam trovões. Mas pelo asilo se espalhavam os estragos. Telhas de zinco se tinham descavacado. Nhonhoso falou: — Há muito tempo que estou dizer para pintarmos aquelas telhas... O velho tinha razões. Essas cobras das ventanias confundem o brilho onduloso das telhas com as ondas da água. E assim se abruptam no vão do espaço, mergulhando sobre os zincos. — Você, Nãozinha, que é feiticeirinha, bem que podia oferecer um wamulambo para o velho Xidimingo. — Lhe digo uma coisa, branco: nunca queira uma cobra dessas. Elas ajudam os donos mas, em contraparte, estão pedindo sempre sangue... O português nem de amarelo sorriu. Incrível como um velho depende do estado do tempo, se fragiliza a meteorologias. Agora, cada um de nós, velhos, nos sentíamos frágeis como um calcanhar. Mourão era o que mais sofria o peso das nuvens. Olhava o firmamento e dizia: — Está um céu de desaparecer a Virgem. Meus seios me doíam em insuportável aperto. Me parecia que sangravam. Separei-me às pressas dos meus companheiros. Me dirigi a minha casinha para me deitar. Eu carecia com urgência de me converter em água. Abri a porta e deparei com a banheira toda quebrada: a tempestade se vingara nela. O wamulambo se confrontava comigo, castigando-me de minhas mentiras? Fiquei ali sentada, derrotada. O sangue me encharcava a blusa. Naquele pequeno quarto eu fiquei parada vendo pingar meus seios. Nunca mais voltaria a amamentar meus netos, fossem eles de verdade ou de carne. De onde saiu sangue não pode escorrer leite. O mulato fosse maldiçoado com todas as mortes. Agora, eu digo: Vasto Excelêncio foi destinado nesse momento. Eu é que lhe encomendei, o homem subitou-se por minha autoria. O mesmo sangue que me escorria no peito havia ele de perder do seu corpo. A vida é uma casa com duas portas. Há uns que entram e que têm medo de abrir a segunda porta. Ficam girando, dançando com o tempo, demorando-se na casa. Outros se decidem abrir, por vontade de sua mão, a porta traseira. Foi o que eu fiz, naquele momento. Minha mão volteou o fecho do armário, minha vida rodeou o abismo. À minha frente surgia a caixa de sândalo que eu tantos anos guardara. Retirei a raiz desse arbusto que cresce junto aos mangais. Abria as pernas e, lentamente, fui espetando a raiz no centro do meu corpo, por essa fresta onde eu e a vida nos havíamos já espreitado. Deixei o veneno se espalhar nas minhas entranhas. Já perdendo forças, cambalinhante, regressei junto dos meus amigos. — Que se passa, Nãozinha? — Me venho despedir. O português sorriu: para que nenhum lado iria eu? Nhonhoso também riu. Mas, depois, eles se certificaram de minha tristeza. — Sabem que a tempestade quebrou a minha banheira? — Não me venha com essa história da água, Nãozinha, respondeu Xidimingo. Eu ainda sorri. Todos temos nossos desconhecimentos. Mas os brancos como se envaidecem de suas ignorâncias! Para o português o assunto era pão e terra. Uma pessoa que vira água? Impossível! O corpo se fragmenta é na morte, polvilhado em nada, na coerência de uma ossada. Eu nem tinha força para desditos. Levantei um torrão de areia e deixei os grãos escorrerem. — Esta noite, sem banheira, eu vou-me escoar por essas areias... Aquela era, em minha realidade, minha última noite. Eu iria ser enterrada como chuva, deflagrada em mil gotas. De súbito, o português me sacudiu, em aflição: — Você está sangrar em todas as pernas, Nãozinha. O que é se passa? — É sangue do meu peito, foi esse mulato me bateu. — Não, Nãozinha, esse sangue é outro. — Que é que você fez-se?, perguntou o velho preto. Nhonhoso sabia. Sendo um retinto, conhecia os nossos modos. Atabalhoando-se, explicou ao português. Eu me estava suicidando. Só havia uma maneira de eu ser salva. Era um deles fazer amor comigo. — Mas não é arriscoso? O veneno não pode passar para nós? Os dois cocuanas trocaram, em silêncio, medos e angústias. Ficaram calados, olhos no chão. Até que o velho Nhonhoso sorriu. E falou: o branco ficasse tranquilo. Ele trataria do assunto. No que o português se opôs. — Mas é perigoso de morrer, Nhonhoso. — Quem quer apanhar o gafanhoto tem que se sujar na terra. — Sabe, Nhonhoso. Quem que vai sou eu! — Nem pense, mulungo. Eu é que vou. E discutiram-se. Ambos me queriam? Usaram motivos e tudo: um que tinha maiores factos que argumentos, outro que tinha a raça certa. O preto dizia: você se deita com a feiticeira e está mais condenado que palha de cigarro. O português ficou calado por um instante. Um gaguejo lhe travava a voz. Até que despejou o desabafo: — Eu não queria revelar isto, mas... Depois, ele voltou-se a calar. Parecia ter perdido coragem. — Fala, homem! — É que Nãozinha, em tempos, levantou todas as saias para mim. E eu lhe olhei sem nenhumas roupas... Senti pena de Domingos Mourão. O português não tinha entendido por que motivo eu lhe mostrara o corpo. Mourão ainda desconhecia muitos dos nossos segredos. Quando uma velha se desnuda e desafia um homem esse é um sinal de raiva. Esse momento que Xidimingo Mourão pensava ser de cortejo tinha sido, afinal, uma mensagem de desprezo. Coitado, o velho branco nem merecia. Já era tarde para emendas. O melhor era deixar Mourão nesse engano. A disputa se resolveu, afinal, a favor do preto. Nhonhoso me pegou na mão, em jeito namoradeiro. Apontou a minha casita e perguntou: — Vamos? Eu já me havia esquecido da arte de trocadilhar os corpos. Mais me confundiam as falas de Nhonhoso: esta é a esteira, e somente a esteira quando se deita uma só pessoa. Mas quando se deitam dois amantes a esteira recebe nela a terra inteira. Você fala as coisas bonitas, Nhonhoso. Mas, além das falas, ainda pratica coisas bonitas? O velho Nhonhoso desenrolava as prosas: veja o Navaia Caetano, dizia. Ele é velho, é criança? Estou a falar, Nãozinhita. Você nunca viu um mulato? Então? Pode-se ser mulato de raças, pode-se ser um mulato de idades. Você é velha-menina, a minha miúda. O que ele me falou, em soprinho no ouvido, me convenceu às loucuras. Que eu estava ainda em idade de flor. Eu já sabia: a velhice não nos dá nenhuma sabedoria, simplesmente autoriza outras loucuras. Minha loucura era acreditar em Nhonhoso. Que eu era a mais linda, a mais mulher. E nós nos adiantávamos, já os corpos livres de roupagens. De repente, ele parou. — Tenho medo. — Medo? — Eu sempre tive medo. — E se lhe faço uns carinhos, perguntei. Assim, disse e fiz. Minha mão passeou em suas delicadas partes. Ele sorriu e respondeu que não valia a pena. — É inútil como tirar ferrugem a um prego. Rimo-nos. A vida é a maior bandoleira: sabemos que existimos apenas por sustos e emboscadas. Agora que Nhonhoso estava assim, coração à mão de semear, foi quando apareceu Vasto Excelêncio. Entrou sem bater e ficou, de riso ao canto, nos contemplando: — Vejam, que casalinho apaixonado nós temos aqui. Empurrando Nhonhoso, afugentou o velho com os pés, lhe ordenou: — Sai daqui, cabrão! Nhonhoso se foi, além da porta. Então, Vasto fingiu me cortejar. Simulava o galo, cortejador. Me humilhava a ponto de animal. Fiz conta que me encostava nesse engano, como se aceitasse aquele baixar da asa do mulato. E lhe adocei o gesto, ensonando-lhe os ombros com as mãos. — Tenho uma especial aguardentinha... Era isso que ele queria. Enchi o copo. Excelêncio bebeu e rebebeu. Até que uma tontura o deitou ao chão. O director delirava. Foi então que me deitei sobre ele. Assim mesmo, nua e húmida, coincidi com seu corpo, concavidei-me com ele. Excelêncio me enredou nos braços. Seus beijos transpiravam a quente espuma da bebida. O homem saltitava de nome em engano: — Marta! Tina... minha Ernestina! Em mim ele completou seus viris préstimos. Terminou com um rosnar de bicho. Separei-me de seu corpo, ansiosa por me lavar. Era como se os líquidos dele, dentro de mim, me azedassem mais que os prévios venenos. No espelho reconfirmei o sangue tingindo-me o peito. Enquanto me lavava, o mulato berrou, impondo mais bebida. Voltei à sala e, de novo, lhe atestei o copo. No rebordo ficou uma marca de sangue. O director não notou logo aquela dedada vermelha no vidro. Bebeu de um trago o veneno e, tamboreando na barriga, mandou: — Enche mais, velha! O copo tombou, estilhaçando-se. E o corpo de Vasto Excelêncio caiu pesado em cima dos mil vidrinhos. Mia Couto
Enviado por Germino da Terra em 28/03/2012
Copyright © 2012. Todos os direitos reservados. Você não pode copiar, exibir, distribuir, executar, criar obras derivadas nem fazer uso comercial desta obra sem a devida permissão do autor. Comentários
|
Site do Escritor criado por
Recanto das Letras