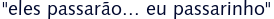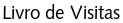A varanda do frangipani (5º capítulo), de Mia Couto
a confissão do velho português
— Como o mar se dá bem neste lugar!
Falei assim, naquela tarde. Falava com ninguém? Não, conversava com as ondas lá em baixo. Sou português, Domingos Mourão, nome de nascença. Aqui me chamam Xidimingo. Ganhei afecto desse rebaptismo: um nome assim evita canseira de me lembrar de mim. O senhor inspector me pede agora lembranças de curto alcance. Se quer saber, lhe conto. Tudo sempre se passou aqui, nesta varanda, por baixo desta árvore, a árvore do frangipani. Minha vida se embebebeu do perfume de suas flores brancas, de coração amarelo. Agora não cheira a nada, agora não é tempo das flores. O senhor é negro, inspector. Não pode entender como sempre amei essas árvores. É que aqui, na vossa terra, não há outras árvores que fiquem sem folhas. Só esta fica despida, faz conta está para chegar um Inverno. Quando vim para África, deixei de sentir o Outono. Era como se o tempo não andasse, como se fosse sempre a mesma estação. Só o frangipani me devolvia esse sentimento do passar do tempo. Não que eu hoje precise de sentir nenhuma passagem dos dias. Mas o perfume desta varanda me cura nostalgias dos tempos que vivi em Moçambique. E que tempos foram esses! Quando veio a Independência, faz agora vinte anos, a minha mulher se retirou. Voltou para Portugal. E levou-me o miúdo que já estava em idade de tropear. Na despedida, minha esposa ainda me ralhou assim: — Você fica e eu nunca mais lhe quero ver. Me sentia como se tivesse entrado num pântano. Minha vontade estava pegajosa, minhas querências estavam atoladas no matope. Sim, eu podia partir de Moçambique. Mas nunca poderia partir para uma nova vida. Sou o quê, uma réstia de nenhuma coisa? Lhe conto uma história. Me contaram, é coisa antiga, dos tempos de Vasco da Gama. Dizem que havia, nesse tempo, um velho preto que andava pelas praias a apanhar destroços de navios. Recolhia restos de naufrágios e os enterrava. Acontece que uma dessas tábuas que ele espetou no chão ganhou raízes e reviveu em árvore. Pois, senhor inspector, eu sou essa árvore. Venho de uma tábua de outro mundo mas o meu chão é este, minhas raízes renasceram aqui. São estes pretos que todos os dias me semeiam. Converso-lhe, lengalengo-lhe? Vou chegando perto, como o besouro que dá duas voltas antes de entrar no buraco. Desculpe-me este meu português, já nem sei que língua falo, tenho a gramática toda suja, da cor desta terra. Não é só o falar que é já outro. E o pensar, inspector. Até o velho Nhonhoso se entristece do modo como eu me desaportuguesei. Me lembro de, um dia, ele me ter dito: — Você, Xidimingo, pertence a Moçambique, este país lhe pertence. Isso nem é duvidável. Mas não lhe traz um arrepio ser enterrado aqui? — Aqui, onde?, perguntei. — Num cemitério daqui, de Moçambique? Eu encolhi os ombros. Nem cemitério eu não teria, ali no asilo. Mas Nhonhoso insistiu: — É que os seus espíritos não pertencem a este lugar. Enterrado aqui, você será um morto sem sossego. Enterrado ou vivo, a verdade é que não tenho sossego. O senhor vai ouvir muita coisa aqui sobre este velho português. Hão-de-lhe dizer que fiz e aconteci. Que até incendiei os campos, que se estendem desde lá atrás. Até que é verdade: sim, eu lancei fogo naqueles matos. Mas foi por motivo meu, a mando só meu. Sempre que olhava as traseiras da fortaleza eu via a savana a perder as vistas. Perante toda aquela devastidão me chegavam instintos de fogo e cinza. Hoje eu sei: África rouba-nos o ser. E nos vaza de maneira inversa: enchendo-nos de alma. Por isso, ainda hoje me apetece lançar fogo nesses campos. Para que eles percam a eternidade. Para que saiam de mim. É que estou tão desterrado, tão exilado que já nem me sinto longe de nada, nem afastado de ninguém. Me entreguei a este país como quem se converte a uma religião. Agora já não me apetece mais nada senão ser uma pedra deste chão. Mas não uma qualquer, dessas que nunca ninguém há-de pisar. Eu quero ser uma pedra à beira dos caminhos. Volto à minha história, não se preocupe. Estava onde? Na despedida de minha antiga esposa. Sim. Depois dela partir, vieram os distúrbios, a confusão. Digo-lhe com tristeza: o Moçambique que amei está morrendo. Nunca mais voltará. Resta-me só este espaçozito em que me sombreio de mar. Minha nação é uma varanda. Nesta pequena pátria me venho espraiando todos estes anos, feito um estuário: vou fluindo, ensonado, meandrando sem atrito. Na sombra, me reiquintei, encostado àquele murmurinho como se fosse meu embalo de nascença. Apenas as cansadas pernas, certas vezes, me inconvinham. Mas os olhos andorinhavam o horizonte, compensando as dores da idade. Você sabe, caro inspector, em Portugal há muito mar mas não há tanto oceano. E eu amo tanto o mar que até me dá gosto ficar enjoado. Que faço? Emborco dessas bebidas deles, tradicionais, e me deixo zululuar. Assim, na tontura, eu ganho a ilusão de estar em pleno mar, vagueando sobre um barco. A mesma razão me prende ali, na varanda do frangipani: me abasteço de infinito, me vou embriaguando. Sim, eu sei o perigo disso: quem confunde céu e água acaba por não distinguir vida e morte. Falo muito do mar? Me deixe explicar, senhor inspector: eu sou como o salmão. Vivo no mar mas estou sempre de regresso ao lugar da minha origem, vencendo a corrente, saltando cascata. Retorno ao rio onde nasci para deixar o meu sémen e depois morrer. Todavia, eu sou peixe que perdeu a memória. à medida que subo o rio vou inventando uma outra nascente para mim. É então que morro com saudade do mar. Como se o mar fosse o ventre, o único ventre que me ainda faz nascer. Demasio-me nesta palavreação. Lhe peço desculpa, já perdi hábitos de conviver com pessoas que têm urgências e serviços. É que aqui não existe ninguém que tenha função que seja. Fazer o quê? Digo com meu amigo Nhonhoso: ainda é cedo para fazermos alguma coisa; estamos à espera que seja demasiado tarde. Em todo este asilo sempre fui o único branco. Os restantes são velhos moçambicanos. Todos negros. Eu e eles só temos serviço de esperar. O quê? O senhor devia era se juntar a nós nestes vagares. Não se preocupe, deixe o relógio sossegado. A partir de agora vou mais a direito: recomeço onde fiquei, nesta mesma varanda onde estamos agora. Pois, aconteceu numa certa tarde, em que aquele tanto azul me parecia derradeiro: a última gaivota, a última nuvem, o último suspiro. — Agora, sim: agora só me resta morrer. Pensava assim porque, neste lugar, a gente definha, morrendo tão lentamente que nem damos conta. A velhice o que é senão a morte estagiando em nosso corpo? Sob o perfume doce da frangipaneira, invejava o mar que, sendo infinito, espera ainda em outra água se completar. Eu desfiava aquela conversa sozinho. Quando se é velho toda a hora é de conversa. Em voz alta, pedia licença a Deus para, naquele dia, me retirar da vida: — Deus: eu quero morrer hoje! Ainda me arrepiam aquelas exactas palavras, é que me sentia em sossegada felicidade, nenhuma dor me atrapalhava. Me faltava, no entanto, competência para morrer. Meu peito obedecia à vaivência das ondas, como se tivesse lembranças de um tempo que só existe fora do tempo, lá onde o vento desenrosca a sua imensa cauda. Sorte têm estes meus amigos que acreditam que todo o dia é o terceiro, apto a ressuscitações. Mas eu requeria morrer naquela tarde que não passava nuvem e o céu estava indeferido para gaivotas. Não era só o mar que me trazia esse desejo de me infindar. Eram as flores do frangipani. Como se me tivesse parenteado com a terra. Como se quem florescesse fosse eu mesmo. — É verdade, a morte não haveria de me doer hoje. Vê lá que eu ainda te faço a vontade. Eram palavras que não saíam de mim. Nem notei a chegada de Vasto Excelêncio, esse filho da maior puta. Excelêncio era um mulato, alto e constituído, sempre bem envergado. O tipo riu-se, ombros hasteados: — Queres mesmo morrer, velho? Ou não será que já morreste e, simplesmente, não foste informado? Aquilo me arranhou, fossem palavras proferidas por garganta de bicho. O mulato prosseguiu, sempre me abestinhando: — Não tenha medo, velho rezingão. Amanhã já vou daqui embora. Fiquei surpreso, inesperado: o sacana nos deixava, assim? E de que maneira ele se retirava? — Não acredita? Sacudi a cabeça, em negação. Vasto rondou o tronco do frangipani como o toureiro estuda o pescoço do touro. Se apurava em me magoar: — E sabe que mais, velho? Vou levar comigo a minha mulher. Heim, vou carregar Ernestina. Está ouvir, velho? Não diz nada? — Que nada? — Sem Ernestina quem é que você vai estreitar? Heim? Como será, velho? Eu me prescindi. Vasto me convidava para raivas e disputas. Eu só podia me escusar. Até que ele se levantou e me puxou com força pelos pulsos. — Quer saber por que sempre lhe tratei mal, Mourão? A você que é um anjo caído dos lusitanos céus? Fingi pegar o céu com os olhos, apenas para evitar as fuças dele. Recordei os tantos castigos recebidos nesses anos. O director assentou os dois pés em cima do meu tornozelo. — Dói? Como pode ser? Os anjos não têm pés! Assim, pisando-me onde o corpo mais me doía, o mulato me calcava acima de tudo a alma. — Está fingir de pedra? Pois, então: a pedra não é coisa de se pisar? Aguentei, impestanejável. Os bafos do satanhoco me salpingavam. Um desfile de insultos se estribilhou da boca dele. Me segurou as orelhas e me cuspiu na cara. Foi saindo de cima de mim e se afastou. Então, dei azo a antigas fúrias: peguei numa pedra e apontei à cabeça do sacana. Uma inesperada mão me travou o gesto. — Não faça isso, Xidimingo. Era Ernestina, a mulher de Excelêncio. Me puxou para o assento de pedra. Suas mãos me desenharam as costas. — Sente aqui. Obedeci. Ernestina me passou os dedos pelos cabelos. Aspirei o ar em volta: nenhum cheiro me chegou. Era eu que inventava os perfumes dela? — Você não entende as maldades dele, não é? — Não. — É que você é branco. Ele precisa de o maltratar. — E porquê? — Tem medo que o acusem de racismo. Eu, sinceramente, não entendi. Todavia, estando assim junto dela, eu não requeria nenhum entendimento, única coisa que fiz foi levantar-me e colher umas tantas flores. Frágeis, as pétalas soltaram-se logo no gesto da oferta. Ernestina levou as mãos ao rosto. — Meu Deus, como eu gosto deste perfume. Alisei compostura em meu fato de domingo. Eu já não fazia ideia nenhuma sobre os dias e as semanas. Para mim todos os dias tinham sabor de domingo. Talvez eu quisesse apressar o tempo que me restava. Ernestina me perguntou: — O senhor não sente saudade? — Eu? — Quando está assim, olhando o mar, não sente saudade? Abanei a cabeça. Saudade? De quem? Ao contrário, me sabe bem, esta solidão. Juro, inspector. Me sabe bem estar longe de todos os meus. Não sentir suas queixas, suas doenças. Não ver como envelhecem. E, mais que tudo, não ver morrer nenhum dos meus. Eu aqui estou longe da morte, é esse um pequenito gosto que me resta. A vantagem de estar longe, nesta distância toda, é não ter nenhuma família. Parentes e antigos amigos estão lá, depois desse mar todo. Os que morrem desaparecem tão longe, é como se fossem estrelas que tombam. Caem sem nenhum ruído, sem se saber onde nem quando. Me leve a sério, inspector: o senhor nunca há-de descobrir a verdade desse morto. Primeiro, esses meus amigos, pretos, nunca lhe vão contar realidades. Para eles o senhor é um mezungo, um branco como eu. E eles aprenderam, desde há séculos, a não se abrirem perante mezungos. Eles foram ensinados assim: se abrirem seu peito perante um branco eles acabam sem alma, roubados no mais íntimo. Eu sei o que vai dizer. Você é preto, como eles. Mas lhes pergunte a eles o que vêem em si. Para eles você é um branco, um de fora, um que não merece as confianças. Ser branco não é assunto que venha da raça. O senhor sabe, não é verdade? Depois, há ainda mais. É o próprio regime da vida. Eu já não acredito na vida, inspector. As coisas só fingem acontecer. Excelêncio morreu? Ou simplesmente mutou-se, deixou de se ver? Termino, inspector. Assassinei o director do asilo. Foi por ciúmes? Não sei. Acho que nunca sabemos o motivo quando matamos por paixão. Agora, já no esfriado do tempo encontro explicação: nessa tarde, ao me despedir de Ernestina, reparei que ela evitava ser olhada de ambos os lados. Percebi, por fim. O seu rosto estava marcado, tingido de ter sido sovado. — Vasto lhe bateu outra vez? Ela desviou o rosto. Sua mão me alicateou o braço, recomendando-me sossego. Deixe, não é nada, disse. E saiu, cabeça na sombra dos ombros. Aquela mulher que eu tanto queria não era uma simples pessoa. Ela era todas as mulheres, todos os homens que foram derrotados pela vida. Tudo então me apareceu simples: Vasto deveria desaparecer, eu o devia matar o mais breve possível. Simplesmente, esperei pela noite. Nessa hora, ele sempre passava por um corredor estreito, sem tecto, que liga o quarto dele à cozinha. Lhe montei a armadilha lá em cima. Fiz subir uma grande pedra e a deixei, no alto, preparada para cair sobre Vasto Excelêncio. E agora me deixe só, inspector. Me custa chamar lembranças. Porque a memória me chega rasgada, em pedaços desencontrados. Eu quero a paz de pertencer a um só lugar, eu quero a tranquilidade de não dividir memórias. Ser todo de uma vida. E assim ter a certeza que morro de uma só única vez. Custa-me ir cumprindo tantas pequenas mortes, essas que apenas nós notamos, na íntima obscuridade de nós. Me deixe, inspector, que eu acabei de morrer um bocadinho. Mia Couto
Enviado por Germino da Terra em 17/03/2012
Copyright © 2012. Todos os direitos reservados. Você não pode copiar, exibir, distribuir, executar, criar obras derivadas nem fazer uso comercial desta obra sem a devida permissão do autor. Comentários
|
Site do Escritor criado por
Recanto das Letras