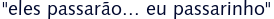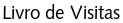A Varanda do Frangipani (3º capítulo), de Mia Couto
a confissão de Navaia
— Quem, eu? Mexer-lhe nas suas coisas? O senhor pode inquirir em todos: não mexi nem toquei na sua mala. Alguém fez. Não eu, Navaia Caetano. Não vou dizer quem foi. A boca fala mas não aponta. Além disso, o morcego chorou por causa da boca. Mas eu vi esse mexilhento. Sim, vi. Era um vulto abutreando as coisas do senhor. Aquela sombra esvoou e pousou nos meus olhos, pousou em todos os cantos da escuridão. Nem parecia arte de gente. Chiças, até me estremexe a alma só de lembrar.
Mas agora eu pergunto: levaram-lhe coisas? é que os velhos, aqui, são os próprios tiradores. Não é que roubem. Só tiram. Tiram sem chegarem nunca a roubar. Eu explico: nesta fortaleza ninguém é dono de nada. Se não há proprietário não há roubo. Não é assim? Aqui o capim é que come a vaca. Nego o roubo mas confesso o crime. Digo logo, senhor inspector: foi eu que matei Vasto Excelêncio. Já não precisa procurar. Estou aqui, eu. Vou juntar outra verdade, ainda mais parecida com a realidade: esse mulato se matou ele mesmo usando minhas mãos. Ele que se condenou, eu só executei seu desejo matador. O que cumpri, se fiz com alma e corpo, não foi por ódio. Não tenho força para odiar. Eu sou como a minhoca: não encosto desvontades contra ninguém. A minhoca, senhor inspector, assim cega e rasa, quem ela pode odiar? Lhe explico, com permissão de sua paciência. Chegue-se mais à luz, não receie o fumo. Nem tenha medo de queimar: não há outra maneira de me escutar. Minha voz se está enfraquecendo, mais débil ficando à medida que eu desfiar estas confidências. Enquanto ouvir estes relatos você se guarde quieto. O silêncio é que fabrica as janelas por onde o mundo se transparenta. Não escreva, deixe esse caderno no chão. Se comporte como água no vidro. Quem é gota sempre pinga, quem é cacimbo se esvapora. Neste asilo, o senhor se aumente de muita orelha. É que nós aqui vivemos muito oralmente. Tudo começa antes do antigamente. Nós dizemos: ntumbuluku. Parece longe mas é lá que nascem os dias que estão ainda em botão. A morte desse Excelêncio já começou antes dele nascer. Começou comigo, a criança velha. A maldição pesa sobre mim, Navaia Caetano: sofro a doença da idade antecipada. Sou um menino que envelheceu logo à nascença. Dizem que, por isso, me é proibido contar minha própria história. Quando terminar o relato eu estarei morto. Ou, quem sabe, não? Será mesmo verdadeira esta condenação? Mesmo assim me intento, faço na palavra o esconderijo do tempo, à medida que vou contando me sinto cansado e mais velho. Está a ver estas rugas nos meus braços? São novas, antes de falar consigo eu não as tinha. Mas eu sigo adiante, não encontrando atalho nem alívio. Sou como a dor que não tivesse carne onde sofrer, sou a unha que teima em nascer num pé que foi cortado. Me dê suas paciências, doutor. Meu tio materno, Taúlo Guiraze, me disse: as demais pessoas contam a história de suas vidas de maneira muito ligeira. Uma criança-velha não. Enquanto os outros envelhecem as palavras, no meu caso quem envelhece sou eu próprio. E me aconselhou: — Meu filho, eu lhe conheço uma saída. Caso se um dia você decidisse ser contadeiro... — E qual seria? Ele ouvira falar de uma criança-velha nascida em outro tempo, outro lugar. Essa criança se divertia contando a sua história, vendo como os outros se angustiavam na ansiedade de o ver morrer. Findas as muitas histórias, porém, ele permanecia vivo. — Não morreu, sabe porquê? Porque mentiu. Histórias dele eram inventadas. Meu tio me convidava a mentir? Só ele podia saber. O que vou contar agora, com risco de meu próprio fim, são pedaços soltos de minha vida. Tudo para explicar o sucedido no asilo. Eu sei, estou enchendo de saliva sua escrita. Mas, no fim, o senhor vai entender isto que estou para aqui garganteando. Minha mãe, abro falas nela. Nunca eu vi mulher tão demasiado parideira. Quantas vezes ela saltou a lua? Lhe nasciam muitos filho. Digo bem: filho, não filhos. Pois ela dava à luz sempre o mesmo ser. Quando ela paria um novo menino, desaparecia o anterior filho. Mas todos esses que se sucediam eram idênticos, gotas rivalizando a mesma água. A gente da aldeia suspeitava de castigo, uma desobediência às leis dos antigos. Qual a razão desse castigo? Ninguém falava, mas a origem do mal todos conheciam: meu pai visitava muito o corpo de minha mãe. Ele não tinha paciências para esperar durante o tempo que minha mãe aleitava. É ordem da tradição: o corpo da mulher fica intocável nos primeiros leites. Meu velho desobedecia. Ele mesmo anunciou como superar o impedimento. Levaria para os namoros um cordão abençoado. Quando se preparasse para trebeliscar a esposa ele amarraria um nó na cintura da criança. O namoro poderia então acontecer sem consequências. Resolvia-se, na aparência, o adoentado destino de minha mãe. Digo bem, na aparência. Porque começou aí minha desgraça. Agora sei: nasci de um desses nós mal atados na cintura de um falecido irmão. Calma, inspector, estou chegando a mim. Não se lembra como falei? Nasci em corpito frágil, sempre dispensado da sede. Minha estreia parecia ter sido abençoada: foram lançadas as seis sementes de hacata. Os caroços tombaram de modo certeiro, alinhados pelos bons espíritos. — Esta criança há-de ser mais antiga que a vida. Meu avô me levantou em bênção e me deixou suspenso em seus braços. Ficou sem falar como se pesasse a minha alma. Quem sabe o que ele procurava? Entre os mil bichos, só o homem é um escutador de silêncios. Meu avô me voltou a ajeitar no seu peito, todo ele posto em riso. Mas a felicidade dele se enganava. Sobre mim recaía a maldição. Fui sabendo dessa maldição nas primeiras vezes que chorei. Enquanto lacrimejava eu ia desaparecendo. As lágrimas lavavam a minha matéria, me dissolviam a substância. Mas não era apenas aquele o sinal da minha condição. Antes, eu já havia nascido sem parto. Ao sair do corpo não dei nenhuma sofrência para minha mãe, desprovido de substância. Escorreguei ventre abaixo, me drenei pela carne materna mais líquido que o próprio sangue. Minha mãe logo pressentiu que eu era um enviado dos céus. Chamou meu pai que baixou os olhos em nenhuma direcção. Um homem está interdito de enfrentar o filho antes que lhe caia o cordão umbilical. Meu velho mandou chamar o chirema. O adivinho me cheirou os espíritos, espirrou, tossiu e, depois, vaticinou: — Este menino não pode sofrer nenhuma tristeza. Qualquer tristeza mesmo que mínima, lhe será muito mortal. O velho acenou fingindo perceber. Fica mal um homem perguntar explicação de prosa alheia. Minha mãe é que confessou não ter entendimento: — O que lhe digo, mamã, é que, se chorar, esta criança pode nunca mais reaparecer. — Basta uma lágrima? — Menos de uma. Basta um pedaço de lágrima. As lágrimas me confirmavam criança, negando meu corpo envelhecido. O chirema voltou a ser atacado por convulsões. Os espíritos falavam por sua boca mas era como se, antes, atravessassem a minha carne mais profunda. A poderosa voz do adivinho seguia entre rouquidão e canto. Se entornava em frases, ascendia por espasmos. às vezes, simples fio, sem corpo. Outras, torrente, espantada com sua própria grandeza. Eu era mais recém que recente mas já escutava com total discernência. O curandeiro me perguntou qualquer coisa em xi-ndau, língua que eu desconhecia e ainda hoje desconheço. Mas alguém, dentro de mim me ocupou a voz e respondeu nesse estranho idioma. Os ossinhos da adivinhação disseram que me devia ser posto um xi-tsungulo. Rodeou-me o pescoço com esse colar feito de panos. Eu não sabia mas, dentro dos panos, estavam os remédios contra a tristeza. Esse feitiço me haveria de defender contra o tempo. — Agora, vai. E explicou: aquelas palavras eram chaves que se quebravam dentro das portas depois de as terem aberto. Não serviam duas vezes. Minha mãe guardou silêncio e assim, internada em si mesma, me foi arrastando no caminho de casa. — Mãe: qual é a doença que eu sofro? Minha mãe me apertou com força. Nunca eu sentiria tal firmeza em sua mão. — Não posso falar disso, meu filho. Parecia ela estava em véspera de lágrima. Mas não, simplesmente virou o rosto. E se afastou, cabisbaixa. Herdei de minha mãe esse modo de entristecer: só quando não choro eu acredito em minhas lágrimas. Naquele momento, restava meu tio Taúlo para me desvendar os meus padecimentos. O irmão de minha mãe me falou: — Você, Caetanito, você não tem nenhuma idade. Tinha sido assim: eu nascera, crescera e envelhecera num só dia. A vida da pessoa se estende por anos, demorada como um desembrulho que nunca mais encontra as destinadas mãos. Minha vida, ao contrário, se despendera toda num único dia. De manhã, eu era criança, me arrastando, gatinhoso. De tarde, era homem feito, capaz de acertar no passo e no falar. Pela noite, já minha pele se enrugava, a voz definhava e me magoava a saudade de não ter vivido. Passou-se o dia primeiro, a minha família chamou os habitantes e pediu que esperassem à volta da nossa casa. O menino que assim nascera certamente trazia novidades, presságios sobre o futuro da terra. Nessa altura, já eu não exibia convidativas aparências: minha pele tinha mais rugas que a tartaruga, os cabelos me tinham crescido e as unhas eram compridas e curvas como um lagarto. Sofria de fomes sucessivas e quando minha pobre mãe me ofereceu o seio mamei com tal sofreguidão que ela quase desfaleceu. Preparava-se a seguinte mamada, meu tio Taúlo levantou o braço e mandou parar o mundo: — Nenhuma mulher lhe ofereça o peito! Ele estava avisado. Se lembrava de um outro menino-velho: chupou o seio da mãe com tais ganâncias que ela não resistiu e faleceu, mirrada como a cana numa prensa. Vieram as tias, ofereceram o seio: também elas morreram. Sempre de braço em riste, meu tio Taúlo concluía: — Ninguém lhe dê de mamar! Minha mãe sacudiu uma invisível mosca e se aproximou de mim, deitando-me em seu colo. — Não posso deixar o meu filho sofrer de fome, disse ela. E puxou o seio para fora da capulana. Os presentes taparam o rosto. Todos recusaram assistir, mesmo meu tio. Foi pena. Assim, ninguém testemunhou como ela morreu. Foi então que me expulsaram, me excomungando para este asilo. Eu trazia maldição, estava contaminado com um mupfukwa, o espírito dos que morreram por minha culpa. Minha doença foi nascer. Estou pagando com minha própria vida. Outra condenação me atrapalha: quando acabar de contar minha história eu morrerei. Como essas mães que amamentam até se extinguirem. Agora entendo. O parto é uma mentira: nós não nascemos nele. Antes, já estamos nascendo. A gente vai acordando no antecedente tempo, antes mesmo de nascer. É como a planta que, no segredo da terra, já é raiz antes de proclamar seu verde sobre o mundo. O que é, inspector? Está a ouvir essa coruja? Não receie. Ela é a minha dona, eu pertenço a essa ave. Essa coruja me padrinhou e sustenta. Todas as noites ela me traz restos de comida. Ao senhor lhe faz medo. Entendo-lhe, inspector. O piar da coruja faz eco no oco da nossa alma. A gente se arrepia por vermos confirmados os buracos por onde nos vamos escoando. Antes, eu me assustava também. Agora, essa piagem me requenta as minhas noites. Daí a um apouco vou ver o que, desta vez, ela me trouxe. Estou me perdendo, o senhor diz. Não, só estou enxotando cacimbos. Quando começar o serviço de duvidar, o senhor vai pensar que quem matou o director foi o velho português, o Domingos Mourão. Não encontrou ainda com ele? Amanhã, vai ver. Depois de falar com esse branco já você vai escolher decisão. Mas tome cuidado, inspector: quem matou Vasto Excelêncio fui eu. É verdade: o português lhe vai presentar razões para deitar morte no mulato. Minhas razões são, no entanto, mais poderosas. Já vai ver. Continuo, vou puxando lembrança. Quando cheguei ao asilo entendi que esta era minha última e definitiva residência. Fiquei derreado, durante dias e dias nem pus dente em côdea. Padeci tais fomes que só não morri porque a morte não me encontrou, tão magro que estava. Nessa altura, fiz pacto com a coruja e recebi migalhas das suas réstias. Depois, muito depois, uma notícia me trouxe esperança. Nessa altura chegou ao asilo uma velha chamada de Nãozinha. Logo correram os ditos: ela era uma feiticeira. Uma ideia me luzinhou: se calhar ela me podia ajudar a voltar à minha verdadeira idade! Falei com essa Nãozinha. A feiticeira primeiro negou-se. Ela dizia não ter poderes. Minha esperança se desfez. Um dia, porém, ela mudou de ideias, sem explicação. Chamou-me para me dizer que iria aprontar uma cerimónia para agarrar o mupfukwa, esse mau espírito que me perseguia. Era preciso um animal, carecia-se de fazer descer o sangue à terra. Mas animal, ali, onde eu iria, desencantar? Falei com a coruja e lhe encomendei peça viva. Nessa noite, me coube uma garça em estado moribundo. Despescoçámos a garça. Contudo, o sangue da ave era tão leve que não tombou no soalho. Foi preciso apanhá-lo junto do pescoço. A cerimónia estava pronta a ter início. Nãozinha falou claro: o espírito de minha mãe que exigia satisfação. — O que ela quer?, perguntei. Minha velhota falou por voz do nyanga: a paz só me visitaria se, em trocapartida, eu lhe concedesse paz a ela. Eu que desse total andamento à minha infância. De dia me ocupasse de brincar, redondeando alegrias pela velha fortaleza. Fosse totalmente menino, para que ela escutasse minhas folias. E se consolasse em estado de mãe. Desde então, meus gritos e risos se acenderam nos corredores do asilo. Era eu menino a tempo quase inteiro. De dia, meu lado criança governava meu corpo. De noite, me pesava a velhice. Deitado no meu leito, chamava os outros velhos para lhes contar um pedaço de minha história. Meus companheiros conheciam o perigo mortal daqueles relatos. No final de um trecho, eu podia ser abocanhado pela morte. Mesmo assim me pediam que prosseguisse minhas narrações. Desfiava prosa e mais prosa e eles se cansavam: — Porra, este gajo não morre nunca... — Acabam as histórias, acabamos nós e ele ainda há-de sobresistir... — Com certeza, ele inventa. Anda-se a esquivar da verdade. Era verdade que inventava. Mas nem sempre, nem tudo. Certa noite, depois de muita palavreação me senti esgotar. Pensei: agora é que estou pisando o fim! Passaram diante de mim estrelas que em nenhuma noite foram vistas. Por minha boca já não transitavam palavras. Será que eu tinha morrido? Não, meu peito ainda se movia. E o mais estranho: enquanto roçava a derradeira fronteira meu corpo se desenrugava, eu perdia a aparência da velhice. A vida me expirava o prazo e eu desabrochava em aspecto de renascer? Os velhos se entreolhavam: desta vez eu teria contado a verdade? Senti que alguns deles choravam. Primeiro, ansiavam ver o espectáculo de uma morte. Agora, se arrependiam. Porque esse que em mim morria não era, afinal, parecido com eles. Era uma criança, um ser totalmente em infância. Esse menino não podia morrer. Lhes doía uma súbita saudade das minhas criançuras. Eu era a única luz que entrava nos escuros corredores. Meu arco quem o brincaria, agora? Aquela roda de bicicleta que antes barulhava pelos corredores, quem lhe iria agora dar voltas e tonturas? Me vendo morrer eles se decidiram. Havia que acontecer urgente e autenticada cerimónia. Havia que reclamar a salvação desse menino, eu, Navaia Caetano. E se prepararam: tambores, capulanas, panos escondidos. Tudo para sossegar o muzimo que me tinha ocupado. — Afinal, tínhamos as tantas coisas, nós? Sim, até tambores se inventaram. Se improvisaram panelas, tubos da canalização. De tudo, enfim, a tristeza tem artes de fazer música. Na noite anterior tinham preparado o tontonto. Roubaram produtos na despensa do asilo. Durante horas festejaram, bebendo, excedendo as bocas. De quando em quando, me espreitavam no leito: eu ainda resistia. E, de novo, dançavam, cantavam. Mesmo o velho branco era atiçado a dançar. A feiticeira colocou as duas mãos sobre o rosto do português e lhe disse: — Quero saber que língua fala o teu demónio. Assim falou Nãozinha, ordenando às gentes que continuassem dançando. Depois, de mão em mão, transitaram ervas fumáveis e os perfumes se espalharam como tonturas. — Vejo o mar, disse o branco. Não admirava: o português sempre via o mar, só via o mar. A feiticeira então baralhou os braços nos gestos, entrando em transe. Parecia o corpo lhe saía fora da alma. Por sua fala começou a caminhar uma outra voz, vinda das profundidades. Mandei os outros se calarem: — Deixem ouvir! — O espírito fala português — Isso é português? Nem se entende... Era língua portuguesa mas de antigamente. O espírito era o de um soldado branco que morrera no pátio desta fortaleza. Esse português, disse a feiticeira, esperava um barco, olhando o mar. — É como você, Domingos, sempre a olhar o mar. — Mas eu não espero nenhum barco... — Isso pensa você, velho. — Calem-se vocês, deixem ouvir o espírito. — Sim, queremos saber quem é esse soldado. O soldado tinha adoecido, quase ficara louco. De tanto olhar o mar seus olhos mudaram de cor. A última coisa que ele viu foi a chegada do temporal, a branca viuvez da garça. Depois, os olhos lhe desapareceram. Ficaram só duas cavidades, grutas por onde ninguém ousava espreitar. Ele morreu sem enterro, sem despedida... De súbito, surgiu o estrondo. Parecia a guerra tinha retornado. Parámos a dança e olhámos Nãozinha, cheios de inquietação. Ela nos sossegou: apenas eram nuvens entrechocando. Olhei o céu mas não havia vestígio de nuvem. No fundo estreloso da noite não vislumbrei senão a fugidia passagem de uma ave rapineira. Atravessava, soberana, a claridade da noite. Seria a coruja? E, afinal, onde se raspavam tais nuvens? Deflagrou um segundo estrondo, desta vez bem terrestre. Olhei: afinal, era o director pontapeando o bidão de tontonto. A bebida se vazou pelo chão, desperdiçada. Nem os antepassados careciam de tanto beber. — Que merda é esta? Que se passa aqui? Nossa cerimónia era bruscamente interrompida por Vasto Excelêncio. O director abusou de boca, sujou-nos o nome. — Eu não disse que estão proibidas estas macacadas no asilo? Os outros velhos explicaram: aquela cerimónia era para me salvar a mim. O mulato me olhou, espantado. Se aproximou do meu leito como se se quisesse certificar da minha identidade. Quando seus olhos se fixaram nos meus foi como se um golpe o derrubasse. Sacudiu a cabeça, esfregou as pálpebras a esborratar a visão. Depois, virou-me costas e proclamou: — Ou me arrumam já esta merda ou pego fogo a tudo, bebidas, velhos, crianças, tudo. E saiu. Os velhos se olharam, mais vazios que o tontonto. Nãozinha se levantou e chegou-se ao meu leito. Ergueu o lençol e começou a esfregar-me as pernas com óleos. As forças lhe vão chegar, disse. Eu senti um calor me corroendo os ossos interiores. Passado um tempo, a feiticeira me encorajou a sair da cama: — Vai você, Navaia. Faz o que tem a fazer-se... Sem esforço, me levantei. Havia como que uma mão invisível me empurrando. E as vozes me incitavam: — Você é que é criança, tem forças de meninice. — Sim, Navaia, vai lá matar esse filho de uma quinhenta... Fechei os olhos. Afinal, tinha sido para matar que a morte disputara meu corpo? Desencrispei as mãos. Apoiado pelos velhos fui sendo arrastado para a porta. Sobre mim tombou o luar. Só então notei um punhal brilhando, justiceiro, em minha mão direita. Mia Couto
Enviado por Germino da Terra em 04/03/2012
Alterado em 04/03/2012 Copyright © 2012. Todos os direitos reservados. Você não pode copiar, exibir, distribuir, executar, criar obras derivadas nem fazer uso comercial desta obra sem a devida permissão do autor. Comentários
|
Site do Escritor criado por
Recanto das Letras