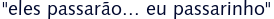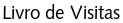o planeta das peúgas rotas, de Mia Couto em E se Obama fosse africano?, publicação da Companhia das Letras, 2011
Nestes últimos dias fui brigando com o tempo para alinhavar esta intervenção, até que um colega me surpreendeu nessas dificuldades e sugeriu o seguinte: “Tu já fizeste uma comunicação chamada ‘Os sete sapatos sujos’. Por que não escreves agora uma outra chamada ‘As sete peúgas rotas’?”. Aquilo não seria mais do que um gracejo passageiro, mas quando cheguei a casa abri uma revista e deparei com uma foto extraordinária do presidente do Banco Mundial, Paul Wolfowitz. O homem esta sem sapatos à entrada de uma mesquita na Turquia e saltam a vista os dedos dos pés espreitando para tora das meias furadas. A fotografia deu volta ao mundo e, quem sabe, tratando-se de quem se trata, o flagrado costume seja amanhã uma espécie de uniforme obrigatório para os banqueiros e bancários do planeta. De qualquer modo, entre a piada do meu colega e a fotografia da revista havia uma invulgar coincidência e acabei chamando a este texto “O planeta das peúgas rotas”. A revista que reproduzia as fotos pretendia explorar o lado caricato da situação de Wolfowitz. Para mim, porém, aquele flagrante apenas tornava um dos homens mais poderosos do Mundo numa criatura mais próxima, mais humana. Quer dizer, o sapato pode ser muito diferente. Mas o dedo gordo que espreita da peúga do banqueiro é muito parecido com o dedo do mais pobre dos moçambicanos. Tal como qualquer um de nós, o presidente do Banco Mundial esconde mazelas debaixo da sua composta aparência. Disseram-me que o tema desta palestra era livre, mas sugeriram, ao mesmo tempo, que eu falasse da Pessoa Humana. As peúgas descosidas podem, de repente, revelar-nos mais humanos e tornar-nos mais parecidos e mais parecidos com quem aparenta ser distante. E começarei por contar um episódio que nunca contei em público e cuja revelação neste espaço me pode custar muito caro. Quem sabe se, depois de partilhar este segredo, acabarei por ver anuladas as minhas contas e me converterei eternamente numa persona non grata para as finanças nacionais? Aconteceu logo a seguir à Independência. Eu estava em véspera de viagem para o exterior e, na altura, não havia as facilidades de que hoje usufruímos. O mais de que um viajante poderia dispor era do chamado traveller’s check. Para se emitir um traveller’s check era uma batalha complicadíssima, era quase necessário que o pedido fosse conduzido ao presidente da República. Eu ia viajar por imperiosas razões de saúde e faltavam escassas duas horas para o embarque de avião e ainda eu estava no balcão do banco numa desesperada tentativa de recolher os meus pobres cheques. No momento, um funcionário vagaroso me disse algo trágico: que os cheques, afinal, precisavam de duas assinaturas, a minha e a da minha esposa. Ora, a minha mulher estava no serviço e não havia tempo para lhe levar os papéis. A única solução chegou-me no auge do desespero. Eu tinha que mentir. Disse ao funcionário que a minha esposa estava na viatura e que, em menos de um minuto, lhe traria os papéis já devidamente assinados. Trouxe os documentos para fora do edifício e, a pressa, falsifiquei a assinatura da minha companheira. Fiz aquilo sob pressão dos nervos e sem ter à minha frente um modelo para copiar. A rubrica ficou péssima, era uma cópia ranhosa, detectável a milhas de distância. Regressei correndo, entreguei a papelada e fiquei à espera. O homem entrou para um gabinete, demorou um pouco e, depois, voltou com ar grave para me dizer: “Desculpe, há uma assinatura que não confere”. Eu já esperava aquilo mas, ainda assim, desmoronei, sob o peso da vergonha. “O melhor”, pensei, “é falar a verdade.” E já tinha começado a falar, “É que, camarada, a minha esposa...”, quando o funcionário me interrompeu para dizer esta coisa espantosa: “A assinatura da sua esposa está certa, a sua assinatura é que não confere!”. Como podem imaginar fiquei sem palavra e passei os minutos seguintes ensaiando a minha própria assinatura ante o olhar desconfiado do funcionário. Quanto mais tentava menos era capaz de imitar a minha própria letra. Nesses longos minutos eu pensei: “Vou ser preso não por ter forjado a assinatura de uma outra pessoa. Vou ser preso por forjar a minha própria e autêntica rubrica”. Conto esta história porque o tema que me sugeriram para falar é sobre a pessoa humana. Nessa altura, perante os malfadados traveller’s checks, eu senti essa experiência curiosa de alguém que é surpreendido em flagrante delito por ser ela própria. A verdade é que nós somos sempre não uma mas varias pessoas e deveria ser norma que a nossa assinatura acabasse sempre por não conferir. Todos nós convivemos com diversos eus, diversas pessoas reclamando a nossa identidade. O segredo é permitir que as escolhas que a vida nos impõe obriguem a matar a nossa diversidade interior. O melhor nesta vida é poder escolher, mas o mais triste é ter mesmo que escolher. Caros amigos: As palavras moram tão dentro de nós que esquecemos que elas têm uma história. Vale a pena interrogar a palavra “pessoa” e é isso que farei, de modo simples e sumário. A palavra “pessoa” vem do latim persona. Esse termo tem a ver com máscara, tem a ver com Teatro. Persona era o espaço que ficava entre a máscara e o rosto, o espaço onde a voz ganhava sonoridade e eco. Na sua origem, a palavra pessoa referia um vazio que era preenchido por um fingimento, o fingimento do actor que, tal como eu perante o traveller’s check, representava uma outra personagem. Veremos que não estamos longe dessa origem, em que nos escondemos por trás de uma máscara na encenação dessa narrativa a que chamamos “a nossa vida”. Nas línguas do sul de África, a palavra “pessoa” é uma categoria particularmente interessante. Um linguista alemão notou no século XIX que muitas línguas africanas do Sul do Sahara diziam “pessoa” usando basicamente a mesma palavra: muntu, no singular, e bantu, no plural. Ele chamou a esses idiomas de “línguas bantus” e, por extensão, os próprios povos passaram a ser designados de “povos bantus”. O que é estranho porque, à letra, se estaria dizendo que existe um conjunto de povos ao qual se chama os “povos pessoas”. Recordo-me de um tocador de mbira, um camaronês chamado Francis Bebey que encontrei na Dinamarca. Perguntei-lhe se tocava música bantu e ele riu-se de mim e disse: “Meu amigo, os chineses são tão bantus como nós, os africanos”. De qualquer modo, a ideia de pessoa em África tem origem diferente, e percorreu caminhos diversos da concepção europeia que hoje se globalizou. Na filosofia africana cada um é porque é os outros. Ou dito de outro modo: eu sou todos os outros. Chega-se a essa identidade colectiva por via da família. Nós somos como uma escultura maconde1 uja-ama2, somos um ramo dessa grande árvore que nos dá corpo e nos dá sombra. Distintamente daquilo que é hoje dominante na Europa, nós olhamos a sociedade moderna como uma teia de relações familiares alargadas. Como veremos, esta visão tem dois lados: um lado positivo que nos torna abertos e nos conduz àquilo que é universal; e um outro lado, paroquial e provinciano, que nos aprisiona na dimensão da nossa pequena aldeia. A ideia de um mundo em que todos somos parentes é muito poética mas pode ser pouco funcional. Todos conhecemos o discurso do moçambicano comum: o governo é o nosso pai, nós somos filhos dos poderosos. Esta visão familiar do mundo pode ser perigosa, pois convida à aceitação de uma ordem social como se ela fosse natural e imutável. A modernidade está soprando nos nossos ouvidos algo muito diverso que obriga a um rasgão dentro de nós. Ao contrário dos pais, que não se escolhem, os dirigentes escolhem-se. A empresa e a instituição não são um grupo de primos, tios e cunhados. A sua lógica de funcionamento é impessoal e obedece a critérios de eficiência e rendibilidade que não se compadecem com compadrios de parentesco. Podemos usar sapatos com ou sem meias furadas. Difícil é vestir as peúgas depois de calçar os sapatos. Temos de nos pensar num mundo em rápidas transformações. A velocidade de mudanças na saciedade moderna faz com que certas profissões se tornem rapidamente obsoletas. No Brasil, por exemplo, a computorização do sector bancário reduziu 40% dos empregos nos últimos sete anos. Isso implica mudanças dramáticas com impactos sociais graves. Estamos na crista da onda de mudanças que não são apenas tecnológicas. Os telemóveis são um exemplo de alguma coisa que deixou de ser apenas uma coisa, um simples objecto utilitário. Os telemóveis passaram a fazer parte de nós, tanto que, se nos esquecemos deles, ficamos vazios, desarmados, como se tivéssemos deixado em casa um braço que não sabíamos que tínhamos. Esta subtil ocupação vai para além das nossas vidas privadas. O crime organizado, por exemplo, passou a ser comandado a partir das prisões. As notícias que se seguiram depois do julgamento do caso do assassínio de Carlos Cardoso mostraram-nos o que outros já sabiam: prisioneiro não é o que está dentro das paredes gradeadas, prisioneiro é quem não tem acesso ao telemóvel. A própria noção de distância deixou de ser medida em termos de quilômetros. Queremos saber se para onde vamos há rede telefônica. O fim do mundo é onde não há cobertura de antena. É verdade que as novas tecnologias não costuram os buracos na nossa roupa interior, mas elas ajudam a alterar as redes sociais em que nos fabricamos. Em muitas línguas africanas a palavra para dizer “pobre” é a mesma que diz “órfão”. Na realidade, ser pobre é perder as redes familiares e as de teias de aliança social. Mora na pobreza quem perdeu o amparo da família. Num futuro muito breve, o verdadeiro órfão é aquele que não dispõe de computador, telemóvel e de cartão de crédito. Apesar de tudo, vivemos numa sociedade que tem uma característica muito curiosa: aqui se glorifica o indivíduo mas nega-se a pessoa. Parece um contra-senso, mas não é. Afinal, há distância entre estas duas categorias: indivíduo e pessoa. Indivíduo é um ser anônimo, sem rosto e sem contorno existencial. A história de cada um de nós é a de indivíduo a caminho de ser pessoa. O que nos faz ser pessoa não é o Bilhete de Identidade. O que nos faz pessoas é aquilo que não cabe no Bilhete de Identidade. O que nos faz pessoas é o modo como pensamos, como sonhamos como somos outros. Estamos, enfim, falando de cidadania, da possibilidade de sermos únicos e irrepetíveis, da habilidade de sermos felizes. Um dos problemas do nosso tempo é que perdemos a capacidade de fazermos as perguntas que são importantes. A escola nos ensinou apenas a dar respostas, a vida nos aconselha a que fiquemos quietos e calados. Uma das perguntas que pode ser importante é esta: O que é que nos dificulta o caminho para transitarmos de indivíduos para pessoas? O que precisamos para sermos pessoas o tempo inteiro? Não tenho a pretensão de apontar as respostas certas. Mas tenho a impressão de que um dos principais problemas, um dos maiores buracos na nossa peúga é pensarmos que o nosso futuro não é fruto do trabalho. Para nós o sucesso, em qualquer área, surge como resultado daquilo que chamamos boa sorte. Resulta de se ter bons padrinhos. O sucesso resulta de quem se conhece e não daquilo que se conhece. Uma das edições do jornal Notícias desta semana abria com uma notícia sobre o monte Tumbine, na Zambézia. Em 1998, cerca de cem pessoas morreram naquele lugar por causa de um aluimento de terras. As terras desabaram porque se retirou a cobertura florestal das encostas e as chuvas arrastaram os solos. Foram feitos relatórios com recomendações muito claras. Os relatórios desapareceram. A floresta voltou a ser cortada e as pessoas voltaram a povoar as regiões perigosas. O que resta em Tumbine são as vozes que têm uma outra explicação. Essas vozes insistem na seguinte versão: há um dragão que mora no monte de Tumbine, em Milange, e que desperta de cinco em cinco anos para ir deitar os ovos no alto mar. Para não ser visto, o dragão cria o caos e a escuridão enquanto atravessa os céus desapercebido. Esse animal mitológico chama-se Napolo, no Norte, e aqui, no Sul, toma o nome de Wamulambo. Existe uma poderosa força poética nesta interpretação dos fenômenos geológicos. Mas a poesia e as cerimónias dos espíritos não bastam para assegurar que uma nova tragédia não se venha a repetir. A minha pergunta é: Estamos nós aqui, nesta assembleia, tão longe assim destas crenças? O fato de vivermos em cidades, no meio de computadores e da internet de banda larga, será que tudo isso nos isenta de termos um pé na explicação mágica do mundo? Basta olhar para os nossos jornais para termos a resposta. Junto da tabela da taxa de câmbios encontra-se o anuncio do chamado médico tradicional, essa generosa personagem que se propõe resolver todos os problemas básicos da nossa vida. Se percorrerem a lista dos serviços oferecidos por esses médicos tradicionais verificarão que figuram os seguintes produtos (vou citar os feitos propagados, saltando os milagres conseguidos na saúde): — faz subir na vida; — ajuda a promoção no emprego; — faz passar no exame; — ajuda a recuperar o esposo ou a esposa. Parodiando a linguagem moderna dos relatórios eu diria que este é o job description do nosso glorioso médico tradicional. Numa palavra, o atirador de sortes faz surgir por magia tudo aquilo que só pode resultar do esforço, do trabalho e do suor. De novo, interroguemos as palavras que nós próprios criamos e usamos. Na realidade, “médicos tradicionais” é um nome duplamente falso. Primeiro, eles não são médicos. A medicina é um domínio muito particular do conhecimento científico. Não há médicos tradicionais como não há engenheiros tradicionais nem pilotos de avião tradicionais. Não se trata aqui de negar as sabedorias locais, nem de desvalorizar a importância das lógicas rurais. Mas os anunciantes não são médicos e também não são tão “tradicionais” assim. As práticas de feitiçaria são profundamente modernas, estão nascendo e sendo refeitas na actualidade dos nossos centros urbanos. Um bom exemplo dessa habilidade de incorporação do moderno é o de um anuncio que eu recortei da nossa imprensa em que um destes curandeiros anunciava textualmente: “Curamos asma, diabetes e borbulhas; tratamos doenças sexuais e dores de cabeça; afastamos má sorte e... tiramos fotocópias”. Durante muito tempo, era interdito aos verdadeiros médicos fazerem publicidade pelos órgãos de informação. E, no entanto, esses outros chamados de tradicionais conservam permissão de se anunciarem. Porquê esta complacência? Porque, no fundo, nós estamos disponíveis para acreditar. Nós pertencemos a esse universo, mesmo que, em simultâneo, já pertencemos a outros imaginários. Não são apenas os pobres, os menos educados que partilham estes dois mundos. São quadros de formação superior, são dirigentes políticos que procuram a bênção para serem promovidos e para terem sucesso nas suas carreiras. Não creio que seja eficaz simplesmente condenar essas práticas. Mas temos que as assumir com mais verdade. Regressando ao título desta palestra, temos de aceitar que, por debaixo da capa do sapato, há uma espécie de ventilação especial nos nossos pés. De pouco vale dizermos que se trata de coisas tipicamente africanas. Meus amigos, essas coisas existem em todo o mundo. Não fazem parte da chamada natureza exótica dos africanos. Fazem parte da natureza da pessoa humana. O que podemos dizer no nosso caso é que essas crenças possuem ainda um peso determinante. E esse entra em contradição com algumas exigências do mundo de hoje. A crença na chamada “boa sorte” faz com que nos demitamos da nossa responsabilidade individual e colectiva. Este é um problema central para o nosso desenvolvimento. Porque esta visão do mundo nos leva a explicar os nossos insucessos pela existência de uma suposta mão escondida. Se falhamos é porque alguém tramou um mau-olhado. Não nos assumimos como cidadãos fazedores e responsáveis. Não produzimos o nosso destino: mendigamos as forças poderosas que estão para além de nós. Ficamos à espera da bênção e do bafejo da boa fortuna. Tudo isto tem a ver com algo mais abrangente e mais sofisticado que é a teoria do complot. Satisfazemo-nos em explicar tudo por razões de alguma conspiração urdida nas nossas costas. E o receio da feitiçaria conduzido para a análise política. O caso recente das madeiras é um bom exemplo da aplicação da teoria da conspiração. Um grupo de compatriotas nossos denunciou aquilo que considerava ser a destruição eminente do nosso património florestal. O alerta era grave, podemos estar a perder não apenas parte do nosso meio ambiente, mas estarmos desperdiçando uma das principais armas para combater a pobreza. A reacção contra este protesto não se fez esperar: artigos diversos apontaram numa mesma direcção. A preocupação com as florestas provinha de um grupo bem-intencionado, mas manipulado por forças ocidentais que se mobilizam contra a presença chinesa em África. Eis a mão obscura que tudo comanda. Tal como sucede na lógica da feitiçaria, a identificação do malvado resolve, à partida, o problema. Levantadas todas as poeiras, esgrimidas todas as suspeições, o assunto das florestas deixará de ser visível. A pergunta é simples: Não seria mais fácil criar uma comissão científica que inventariasse o verdadeiro estado actual dos recursos florestais e avaliasse as reais tendências de abate da nossa madeira? O assunto, meus amigos, é demasiado sério para fingirmos que estamos fazendo alguma coisa apenas porque levantamos a suspeita de uma conspiração internacional. A verdade é que se perdermos a floresta perdemos uma das maiores reservas de riqueza, o maior banco vivo de nosso território nacional. Caros amigos: Referi a ideia de má ou boa sorte como algo que mata a capacidade empreendedora, como algo que consolida o espírito de vítima. Referi esse convite constante para pensarmos que, para melhorar o mundo, a única coisa que nos resta é pedir, lamentar e reclamar. Faço uma outra confidência. A empresa em que trabalho abriu um concurso para jovens que fizessem inquéritos nos bairros de Maputo. Concorreram centenas de jovens e parecia claro que as duas dezenas que conseguiram o lugar o defenderiam com unhas e dentes. Logo no primeiro ensaio, porém, uma meia dúzia se apresentou cheia de queixas e reivindicações: que não podiam trabalhar ao sol, que o trabalho era muito cansativo e necessitavam de mais repouso, que precisavam de um subsídio para comprar chapéus e sombreiros... Este espírito, meus amigos, é o de uma nação doente. Um país em que os jovens pedem antes de dar qualquer coisa, é um país que pode ter hipotecado o seu futuro. O que eu noto é que, a par de uma abnegação ilimitada, nós sofremos ainda do complexo de que merecemos mais que os outros porque sofremos no passado. “A História está em dívida conosco”, é isso que pensamos. Mas a História está em dívida com todos e não paga a ninguém. Não houve o povo que não sofresse, em algum momento, terríveis martírios e prejuízos. Nações inteiras foram reduzidas a escombros e renasceram por causa do trabalho e esforço de gerações. O nosso próprio país foi capaz de se afastar das cinzas da guerra. Invocar o passado para que se tenha pena de nós e ficar à espera que alguém nos compense é pura ilusão. A lógica é, afinal, uma extensão do individual para o colectivo. Como sobrevivemos pessoalmente à custa de favores, pedimos ao mundo que nos conceda privilégios e compensações especiais. Esse posicionamento de vítimas a quem o mundo tem de pagar uma dívida sucede como nação e como cidadãos. A verdade é esta: nunca nos darão essas condições. Ou nós as conquistamos ou nunca chegaremos lá. O valor de Lurdes Mutola deriva de ela ter vencido todo um historial de dificuldades. Imaginemos que Lurdes Mutola, em lugar de treinar a sério, faria a exigência de partir uns metros à frente das suas adversárias, argumentando que era pobre e vinha de um país martirizado. Mesmo que ela ganhasse, a sua vitoria deixaria de ter qualquer valor. O exemplo parece ridículo mas refere o exercício de coitadismo que praticamos vezes sem conta. A solução para o desfavorecido não é pedir favores. É lutar mais do que os outros. E lutar sobretudo por um mundo onde não seja preciso mais favores. Um outro buraco nas nossas peúgas (este é um buraco do tamanho da própria peúga) é a nossa tendência para culpabilizar os outros pelos nossos próprios erros. Perdemos o emprego não porque faltamos consecutivamente sem justificação. Perdemos a namorada (ou namorado) não porque amamos pouco e mal. Reprovamos no exame, mas não foi nunca por falta de preparação. Esses deslizes são por nós explicados pela evocação de demónios cuja existência é profundamente cômoda. A construção de diabos é, afinal, um investimento a prazo: a nossa consciência pode dormir à sombra dessas ilusões. Esta não é uma doença exclusivamente nossa. Nos dias de hoje, estamos assistindo a um dramático exemplo dessa fabricação de fantasmas: diariamente no Iraque se matam civis inocentes em nome de Deus, em nome da luta contra um demónio que são os outros, de outra crença. José Saramago disse: “Matar em nome de Deus faz desse Deus um assassino”. E regressamos à questão da pessoa humana. Ao longo da História, as operações de agressão aos outros começam curiosamente por despessoalizar esses mesmos outros. Por assim dizer, esses — os inimigos — não são pessoas humanas como nós. A primeira operação na guerra dos Estados Unidos contra o Vietnã não foi de ordem militar. Foi de ordem psicológica e consistiu em desumanizar os vietnamitas. Eles já não eram humanos: eram “amarelos”, eram seres de outra natureza sobre os quais não haveria problema de ética em lançar bombas, o agente laranja e napalm. O genocídio no Ruanda foi aqui perto e não muito distante no tempo. Comunidades que conviviam em harmonia foram manipuladas por elites criminosas ao ponto de se ter cometido o maior massacre da História contemporânea. Se antes de 1994 perguntássemos a um tutsi ou a um hutu se acreditava que aquilo poderia acontecer no seu país eles declarariam que isso não era inimaginável. Mas sucedeu. E sucedeu porque a capacidade de produzir demónios é ainda muito grande nos nossos países. Quanto mais pobre é um país maior é a capacidade de se destruir a si mesmo. A partir de abril de 1994 e durante cem dias consecutivos mais de 800 mil tutsis foram assassinados pelos seus compatriotas hutus. Machados e catanas foram usados para chacinar 10 mil pessoas por dia, o que dá uma média de dez pessoas por minuto. Nunca na História humana se matou tanto em tão pouco tempo. Toda esta violência foi possível porque se tinha trabalhado para provar, uma vez mais, que os outros não eram pessoas humanas. O termo escolhido pela propaganda hutu para falar dos tutsis era cockroaches, baratas. A matança estava assim isenta de qualquer objecção moral, estava-se matando insecto e não pessoas humanas, compatriotas falando a mesma língua e vivendo a mesma cultura. No vizinho Zimbábue, o discurso da unidade que marcou o início de uma sociedade multirracial foi, de súbito, alterado para uma agressão marcadamente racista. O vice-presidente do Zimbábue, Joseph Msika, num comício na cidade de Bulawayo disse textualmente: “Os brancos não são seres humanos”. Ele apenas estava repetindo o que Robert Mugabe já havia proclamado. E eu cito as palavras de Mugahe: “O que odiamos nos brancos não é a sua pele mas o demónio que emana deles”. Os dirigentes da Zanu tinham-se distinguido, poucos anos antes, como defensores de uma nação multirracial. O que tinha mudado? Mudara o jogo de forças. A ambição pelo poder provoca mudanças surpreendentes nas pessoas e nos partidos. Estamos certos de que, em Moçambique, essas nuvens sombrias são distantes e pouco prováveis de alguma vez acontecerem. Esse é um motivo de orgulho no presente e de confiança no futuro. Mas esta certeza necessita de que não esqueçamos as lições de uma história que é também a nossa. Caros amigos: Pediram-me que falasse da pessoa humana. É um universo vasto, sem limites, do qual ninguém se pode dizer especialista. Fui forçado a escolher uma pequena parcela dessa tela infinita. Falei deste mal que é a demissão das nossas responsabilidades, da deserção das nossas capacidades. Falei da dependência de um modo de vida, em que tudo se consegue por favores, por cunhas e benesses. Falei de tudo isto porque o sistema bancário é profundamente vulnerável e permeável a este tipo de situações. A nossa verdadeira questão enquanto nação é sermos capazes de produzir mais riqueza. Mas não confundirmos riqueza com dinheiro fácil. Certa vez fiz uma intervenção sobre essa obsessão de enriquecer rapidamente e de qualquer maneira. Fui atacado pelo argumento demagógico de que eu não queria ver moçambicanos ricos. Termino hoje reiterando aquilo que sempre defendi. O meu anseio não é apenas ver moçambicanos ricos no verdadeiro sentido da palavra riqueza. O meu anseio é ver todos os moçambicanos partilhando de uma mesma riqueza. Só essa riqueza nos fará mais pessoas e mais humanos. (*) Intervenção no Encontro sobre Pessoa Humana, abertura de Conferência no Millenium bim, Maputo, 2008. (1) Povo do norte de Moçambique. (2) “Família alargada.” Por extensão, denomina um tipo de escultura em que figuras várias se aglomeram de forma entrelaçada simbolizando a unidade familiar. Mia Couto
Enviado por Germino da Terra em 31/01/2012
Copyright © 2012. Todos os direitos reservados. Você não pode copiar, exibir, distribuir, executar, criar obras derivadas nem fazer uso comercial desta obra sem a devida permissão do autor. Comentários
|
Site do Escritor criado por
Recanto das Letras