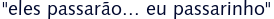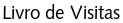plasticidade da palavra, entrevista de Nuno Ramos a Leonardo Fuhrmann na Língua Portuguesa, no 72
Não é fácil explicar o multifacetado Nuno Ramos. Se o público o enxerga como um artista plástico que passou a ser escritor, ele se vê justamente da forma contrária. Autor de um texto que muitas vezes guarda mais afinidades com a poesia do que com a prosa, só agora ele lança o seu primeiro livro de poemas propriamente dito, Junco (Iluminuras). No fim de agosto, o autor participou do relançamento de seu primeiro livro, Cujo, obra original de 1993. Na festa, realizada na Casa de Francisca, um café-teatro no bairro dos Jardins, em São Paulo, o autor fez uma apresentação ao lado do parceiro Clima e da sambista Dona lnah. Com Clima, Ramos roteirizou e dirigiu dois curtas em 2002. Na formação de suas ideias e conceitos, é preciso incluir também o gênero musical rock, da fase em que o artista conviveu com os integrantes do grupo Titãs, no começo dos anos 80, quando ainda estava cursando filosofia na Universidade de São Paulo (USP). A seu ver, de todos esses elementos o que surge não é bem uma mistura, mas sim um artista que pretende ter várias vozes e busca uma arte que o deixe saciado. De tal maneira, afirma Nuno, que ao entrar e sair de diversos tipos de arte ele sempre acaba descobrindo algo novo dentro de cada uma delas. Em entrevista à Língua, Nuno Ramos fala sobre sua arte — sempre pautada pela busca —, da qual surgiu um pintor e escultor autodidata, que vem produzindo trabalhos importantes desde o começo dos anos 80 — expostos tanto no Brasil quanto no exterior — além de ser um escritor que chama atenção por suas vozes tão próprias. Qual a relação da sua literatura com as outras formas de arte? Olha, eu não sei direito. Essas coisas vão acontecendo sem a gente dominar muito. Biograficamente, comecei como escritor. Não que tenha publicado antes de expor. Desde a primeira adolescência, eu pensava que ia ser escritor, poeta. Meu ingresso no negócio da arte foi feito pela palavra, não tinha nada a ver com as artes visuais. Eu não gostava de artes visuais, eu detestava obras de arte. Eu acho que alguma coisa me separou da literatura no sentido criativo. Eu tive uma adolescência muito legal, em que escrevia muito, não sei se era bom. Mas era ligado, ia fazendo aquilo. Quando entrei na faculdade — não sei se é por fazer um curso de filosofia, que tinha uma relação com a literatura, pois mexia a questão do pensamento — eu fazia ensaios, tinha uma exigência maior de leituras, um maior rigor. O fato é que me afastei um pouco da literatura, entrei numa certa crise com aquilo que eu fazia como escritor. Naquela época eu tinha também muitos amigos que começavam a fazer carreira como músicos, como o pessoal do Titãs. Não tinha muito sentido, não foi uma coisa anunciada, que fosse coerente com o que eu fazia. Mas eu desde muito menino queria ser artista. Desde os 12 anos, eu já escrevia. Era muito ligado ao meu pai, que me que me dava muita força para isso. Eu tinha 14 anos na época em que meu pai morreu, mas o fato de eu escrever já era uma história com ele. Mas comecei na arte e não consegui mais parar. Mesmo sem escola específica, eu não estudei nesse ramo. Você tem um conto em que reflete sobre a palavra. Como se dá essa reflexão? Assim como eu entrei nas artes plásticas sem dominar nada, eu sempre tenho a impressão de que posso fazer as coisas. Eu tentei fazer cinema, tenho um filme, componho, apesar de ter poucos recursos técnicos para qualquer uma dessas coisas. Acho que a minha reflexão vem de um olhar um pouco de lado, meio de fora. Acho que faço muito isso. De repente eu entro em algum campo como se chegasse onde ninguém mais chegou. Claro que já entrou um monte de gente. Mas eu olho um pouco de fora. Eu tenho um movimento de entrar nas coisas, de fora para dentro. Quando já estou lá dentro, começo a achar meio besta, fico em crise. Nesse momento, eu preciso sair e entrar de novo. E assim que eu uso minhas deficiências e dificuldades, para dar uma saída. Acho que vem daí. Eu acho estranha a palavra. Eu gosto de estranhar um pouco as coisas que uso. Conseguir estranhar, para mim, é um recuso estético interessante. Você trata disso em alguns de seus textos, em que fala de tirar uma casca, de descobrir o que está debaixo dela, não é? É isso mesmo. Tirar uma pele e encontrar a mesma coisa novamente. Como se a aparência fosse aquilo que tem dentro. Creio que eu fico mesmo descascando as coisas. Eu gosto de pular de galho em galho e atacar. Atacar é o lance para mim. E depois aquilo se esgota um pouco. Mas também não gosto de abandonar. Eu sinto falta das coisas que larguei. Dos quadros que agora faço pouco, aquelas obras de relevos. Penso em voltar. Mas gosto muito desses desvios. Gosto muito quando me pedem coisas. Fico com raiva de fazer. Como isso aqui [durante a entrevista, Nuno se preparava para uma apresentação de música e literatura no café-teatro Casa de Francisca, em São Paulo]. É um pouco estranho para mim, pois nunca me apresento. Mas é algo que me mobiliza, me ache de ideias. Por isso que digo que essa entrada em uma coisa e muito legal para mim. Parece que na literatura tendemos a tratar tudo de forma estanque: o contista, o poeta, o romancista. Sem falar na relação da literatura com outras artes. Como você vê isso? É algo que depende de cada um. Existem grandes artistas de um gênero ou de uma certa especialização. Isso não os desmerece como artistas. Não significa que eles ficam para trás. Eu brinco com meus amigos pintores que eu tenho muita inveja desse foco. Eu me sinto como uma espécie de alma penada, desencarnando e encarnando de novo. Não acho que seja uma vantagem relativa, mas que cada um tem o seu caminho. Eu gosto muito daquele conto “Um Artista da Fome”, do Franz Kafka, que é sobre um cara que faz aquelas apresentações de jejum. Uma vez o esquecem lá e ele jejua durante anos. E depois o encontram quase morto, e ele diz que nunca encontrou um alimento de que realmente gostasse. E caso tivesse encontrado tal alimento, ele teria comido tanto quanto todos os outros. Sinto-me um pouco assim também, acho que nunca encontrei um alimento de que eu gostasse. Estou sempre buscando em outro lugar. Não é uma escolha consciente. Não acredito que a arte dependa da variação de gênero, de ampliação ou dessa inquietação. Não acho que isso é modelo para nada. Eu tento transformar isso em algo rico, que valha a pena. Mas as texturas são recorrentes nas suas obras, não? Eu tenho muita atenção para essa coisa física. E tento escrever também de uma forma em que as palavras tenham peso. Busco sempre uma consonância entre sentido e som. Meu texto é próximo da poesia. Embora meu primeiro livro de poesia, Junco, esteja saindo apenas agora pela Iluminuras. Acho que mesmo escrevendo em prosa, me coloco numa posição mais próxima da poesia do que da prosa. É uma prosa poética. Mas, às vezes, também me enche um pouco o saco não conseguir narrar nada, quando a linguagem toma o lugar daquilo que eu quero contar. Meu dilema é fazer a poesia ter também um conteúdo de vida, que não seja metalinguística demais. Quero chegar nas coisas sem perder essa câmara de ecos que a linguagem tem, esse campo meio opaco. Porque um romance, por exemplo, não se faz só com exercícios de linguagem nem com a mera narração de uma história... Uma característica tem de se imbricar na outra. Mas eu não me imagino escrevendo um romance. É algo que eu vejo além do meu horizonte. O máximo que eu consigo são histórias curtas, textos esquisitos. Eu me identifico muito com a ideia de vozes. Apesar de eu ir pouco ao teatro e conhecê-lo tão mal, a dramaturgia é interessante para mim. Eu me sinto como um ator que está enunciando um texto que eu não sei bem quem escreveu. Assim eu teria uma heteronomia totalmente confusa, não muito articulada. Algo diferente da heteronomia famosa, que é a do Fernando Pessoa. Acho que eu tenho vozes diversas dentro de mim, que nem sempre conjugam bem nem ou se somam. É um grilo meu. Como as coisas que eu faço são muito diversificadas, não sei se elas se juntam, como se somam e se contradizem, ou se tenho uma coerência poética. Não é um ponto claro em tudo o que eu faço. É uma confusão na minha cabeça, às vezes maior dentro de mim do que nas pessoas que acompanham os meus trabalhos. Como você separa o artista plástico do escritor? Uma ideia visual pode virar um livro e vice-versa? Claro que pode. Por exemplo, eu tenho muita vontade de fazer uma exposição com essa ideia de boneco de piche, de uma bola de goma que fosse agregando coisas. Faz 15 anos que tenho essa porra de tema e não consigo fazer nada. Tudo que eu tentei ficou um pouco ridículo. Isso migrou um pouco. Fiz alguns contos com essa temática e uma canção em parceria com o Râmulo Fróes. Mas o que eu tento é justamente separar. Acho mais interessante encontrar um caminho que não seja comum, uma área de exclusão. Mas é inevitável que junte. Às vezes, eu estou bolando um troço e eu gosto de escrever, de ler. E quando eu acho uma leitura, ajuda muito. Não na parte de pintura propriamente dita. Tem uma passagem. Com a leitura, aquilo anda, eu me apoio na região da literatura. Como você definiria o Nuno Ramos no papel de leitor? Sou um leitor entusiasmado e pouquíssimo rigoroso. Afetivamente esquecido das coisas que li, acho que leio textos que não entendo direito. Mas a minha vida fica muito melhor quando eu leio. Parece que você está conhecendo gente. Mas eu não sou aquele leitor rigoroso, que aprende com o que lê. Às vezes, tenho amigos que já leram faz dois anos uma obra e eles sabem mais do livro do que eu, que estou lendo agora. Tem vezes que eu acho que estou entendendo, mas não estou. Eu li, por exemplo, O Cru e o Cozido, do Claude Lévi-Strauss, com grande entusiasmo. No segundo volume, ele resume o primeiro e aí eu percebi que não havia entendido porra nenhuma. Você acha que o best-seller ajuda a introduzir novos leitores na literatura? Eu não sou indicado para falar sobre isso porque tenho pouco convívio com esse tipo de leitura. Eu acho que vale tudo. Tem coisa boa e ruim. Eu lembro que li O Chefão, do Mario Puzo, quando era menino e achei um livraço. Foi na época em que foram lançados os dois filmes do Francis Ford Coppola (primeira metade dos anos 70). Nunca me esqueci, mesmo o Puzo não sendo um grande autor naquele sentido que costumamos usar. O que tem é livro chato. O problema não é ser best-seller, é ser besta mesmo. O que tem é literatura onde a linguagem é mais opaca e aparece mais do que em relação a outros livros. Vai ficando mais complexo conforme esse elemento alienígena que é o texto se presentifica mais. O jogo literário vai ficando mais rico. É legal poder acessar isso. Mas esses textos que a gente classifica como sérios são também deliciosos e imediatos. Ninguém precisa estudar Marcel Proust para ler. É preciso gostar e ir em frente ou desistir, como em um best-seller. A fruição tem de ser a mesma. A arte é sempre imediata, sem muito medo. Você acha que o escritor perdeu a importância que tinha no passado? Ninguém mais tem. A coisa do homem público era algo do fim do século 19, como Émile Zola, e termina possivelmente no Jean-Paul Sartre, em meados do século passado. Essa coisa do homem fundamental para a formação da opinião pública de uma nação foi se desfazendo. A indústria cultural chegou, a coisa também se abriu para as classes populares que consomem cultura de outra forma. Não existem mais grandes vozes na cultura? É um jogo mais confuso, em que não há mais aquela unicidade na formação de conceitos. Acho que o lance é que o artista tem de fazer arte boa, que cause estranhamento. Arte que injete potência na vida. Isso pode estar mais bem divulgado ou só ocupar um espaço daqui a 50 anos. Tem muitos escritores que já produziram e seus leitores ainda não nasceram. Existem muitos escritores ruins que têm uma voz mais pública mais forte do que autores melhores do que eles. Hoje, o escritor tem de dividir esse posto com o apresentador de TV, o atleta de ponta. São vozes espalhadas e isso é legal também. O Muhammad Ali e o Sartre são formadores de opinião e um não é melhor que o outro. O Ali foi um questionador incomparável na época dele. Mas eu acho legal que tenha eventos que prestigiem também esse lado do escritor, como a Flip. Mexe com uma coisa de as pessoas também irem lá para devorar a figura do autor, como existe em outras áreas. Há médicos que são figuras públicas. Deve haver congressos de hepatologia que devem ter as estrelas que são hepatologistas. E deve ter pacientes e estudantes que vão lá para ver o hepatólogo número um do mundo. Cada um com a sua espetacularidade. Leonardo Fuhrmann
Enviado por Germino da Terra em 04/11/2011
Alterado em 04/11/2011 Copyright © 2011. Todos os direitos reservados. Você não pode copiar, exibir, distribuir, executar, criar obras derivadas nem fazer uso comercial desta obra sem a devida permissão do autor. Comentários
|
Site do Escritor criado por
Recanto das Letras